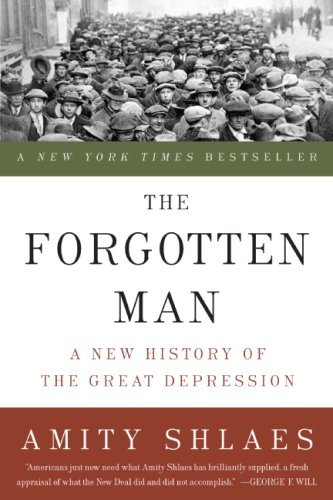Rodrigo Constantino
Uma coletânea de falácias econômicas. Assim pode ser resumido Maus Samaritanos, o novo livro do economista de Cambridge Ha-Joon Chang, que é também o autor de Chutando a Escada. Ele tomou emprestada essa expressão de Friedrich List, o economista do século XIX que defendia o nacionalismo mercantilista. O novo livro de Chang ataca o livre comércio e defende o protecionismo estatal, através tanto de subsídios como de tarifas alfandegárias. O prefácio da edição brasileira foi escrito por Luiz Carlos Bresser-Pereira, que foi ministro das Finanças durante o governo Sarney e adotou o congelamento de preços como meio para combater a inflação galopante. Bresser denomina a estratégia pregada por Chang de “novo desenvolvimentismo”. Na verdade, trata-se do velho mercantilismo de List.
A principal tese do livro é que os países atualmente desenvolvidos chegaram neste patamar de desenvolvimento graças ao protecionismo estatal, e não ao livre comércio. Uma vez no topo, eles pretendem “chutar a escada” e impedir o acesso aos demais países pobres. Contam com um grande e poderoso aparato de economistas neoliberais – os “maus samaritanos” – para defender essa estratégia. Assim, a privatização, a redução da burocracia, um banco central menos politizado, o combate à inflação, a abertura comercial e o equilíbrio orçamentário do governo seriam medidas prejudiciais aos países pobres, defendidas pelos neoliberais por interesse ou ignorância. A “Trindade Profana”, representada pelo FMI, OMC e Banco Mundial, seria o principal mecanismo para derrubar essa escada de acesso ao desenvolvimento.
O desenvolvimentismo de Chang é muito similar ao nacionalismo de List, economista que representava o oposto daquilo que Adam Smith defendia. Contra a “mão invisível” do mercado, seria necessária a “mão benevolente” do governo. O protecionismo de Chang é o mercantilismo com um véu novo. Retirando o eufemismo, resta o velho dirigismo estatal, a crença de que o Estado deve assumir a locomotiva do desenvolvimento econômico. Friedrich List já dizia que somente onde o interesse dos indivíduos estivesse subordinado ao da nação, haveria desenvolvimento decente. A nação era vista como um ente concreto, com desejos e interesses, que justificavam inclusive o sacrifício dos indivíduos. Quem saberia dizer quais os verdadeiros interesses da nação? Com certeza, os “sábios”, entre eles List. A glória futura da nação valeria mais que tudo. Nesse aspecto ao menos, Hitler não foi muito criativo.
Como todo desenvolvimentista, o autor se coloca sempre do lado do poder. Ele parece acreditar que um “déspota esclarecido” irá decidir qual protecionismo é desejável, e tomar medidas sempre com o “bem-comum” em mente. O governante será clarividente e honesto, uma espécie de “rei filósofo” platônico. Chang chega a afirmar: “O desenvolvimento econômico requer pessoas como Henrique VII, que constroem um futuro novo, em vez de pessoas como Robinson Crusoé, que vivem o dia de hoje”. Em outras palavras, os indivíduos não conseguem, através da sua liberdade, gerar desenvolvimento econômico por conta própria. Eles precisam da sabedoria dos governantes, sob o auxílio dos conselheiros, Chang incluído. A arrogância vem à tona quando o autor diz: “O comércio é simplesmente muito importante para o desenvolvimento econômico para ser deixado por conta dos economistas do livre-comércio”. Ou seja, o comércio não deve ser livre, mas sim controlado pelos economistas “esclarecidos”, os desenvolvimentistas, como o próprio Chang. Apenas eles sabem quais são os “interesses da nação”, e estão dispostos a sacrificar seus próprios interesses por este fim.
O paternalismo está presente na mentalidade desenvolvimentista também. O governo é o pai que ama seu filho – o povo, e que irá cuidar dele. De fato, Chang usa a analogia para defender o protecionismo das “empresas nascentes”, alegando que cuida de seu filho de seis anos, protegendo-o da concorrência até sua maturidade. Getúlio Vargas, o “pai dos pobres”, não faria uso de uma metáfora diferente. De fato, esses paternalistas são mesmo os “pais dos pobres”, já que suas políticas costumam parir muita pobreza.
O nacionalismo de Chang parece um marxismo exportado para nações. Os países ricos exploram os países pobres. Portanto, as regras do jogo não podem ser iguais. Seria injusto, segundo o autor, tratar da mesma forma países desiguais. Os países ricos deveriam aceitar o protecionismo dos mais pobres sem reclamar, pois são mais ricos. Justiça, por esta ótica, é garantir um tratamento diferencial com base na renda. Um dos problemas disso é que o protecionismo não beneficia os países pobres, mas sim alguns grupos ricos desses países, à custa do restante do povo. É análogo ao próprio marxismo dentro de cada nação: atacar os mais ricos não favorece os mais pobres, e sim o contrário. Outro problema desse raciocínio é que o protecionismo seria, então, desejável dentro da nação também. Cada estado deveria proteger suas indústrias para garantir seu desenvolvimento. A lógica poderia continuar: cada bairro deveria fazer o mesmo, para estimular seu desenvolvimento. Afinal, o que há de tão especial no conceito de nação? No extremo, acaba-se na conclusão de que a auto-subsistência do indivíduo pode ser desejável.
Chang parece confundir correlação com causalidade. Ele cita que fases protecionistas e com intervenção estatal forte apresentaram bons resultados, enquanto reformas neoliberais geraram crises. A falácia desse raciocínio é que o crescimento desenvolvimentista apenas hipotecou o futuro. O autor chega a defender abertamente essa política, quando afirma que “faz sentido para um país em desenvolvimento ‘emprestar das gerações futuras’, assumindo déficits orçamentários para investir por seus próprios meios no presente e, portanto, acelerar o crescimento econômico”. Após uma era de crescimento artificialmente criado pelos gastos estatais sem lastro, um duro ajuste se faz necessário. Mas Chang prefere condenar o termômetro pela febre. Ele ataca os sintomas expostos pelo livre mercado, em vez das causas plantadas pelo desenvolvimentismo. Não obstante essa falácia estatística, resta questionar qual país não está em desenvolvimento. O autor trata os países mais desenvolvidos como países que chegaram ao patamar máximo de desenvolvimento, e não mais tivessem que se desenvolver.
O autor defende até mesmo os programas de substituição das importações, que nos remete ao caso brasileiro da “Lei da Informática”, que condenou o país ao atraso tecnológico. Como pode ser bom para o desenvolvimento de uma economia comprar verdadeiras carroças pelo preço de uma Ferrari? Chang defende ainda que uma inflação de até 40% ao ano pode ser desejável. Ele afirma: “A inflação baixa e a prudência do governo podem ser prejudiciais ao desenvolvimento econômico”. Dificilmente um brasileiro poderá concordar com isso, se tem alguma memória.
O caso da Coréia, terra natal de Chang, é freqüentemente citado no livro. Fica a impressão de que o protecionismo comercial seletivo e a clarividência do governo foram responsáveis pelo sucesso relativo do país, e não a maior abertura comercial e o investimento na educação, respeitando-se a meritocracia. As falhas do modelo coreano acabam transformadas pelo autor nas causas do sucesso. Nenhuma vez é citada no livro a palavra “chaebols”, por exemplo. O autor fala da ajuda estatal à Samsung, mas esquece que os grandes conglomerados ajudados pelo governo estiveram no epicentro da grande crise de 1997. O modelo da Coréia deu certo a despeito do protecionismo, não por causa dele.
Outra falácia comum praticada pelo autor chama-se non sequitur: de premissas verdadeiras, ele conclui coisas que não seguem delas. Se há protecionismo nos países desenvolvidos, então ele é causa do sucesso, afirma Chang. No livro, “aprendemos” que Taiwan, Cingapura, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça são exemplos de sucesso do protecionismo esclarecido, e que Argentina, Brasil e Rússia são casos de fracassos do neoliberalismo. Quanta inversão!
O autor afirma que o livre-comércio pode trazer benefícios no curto prazo, mas condena o país pobre no longo prazo. É justamente o contrário: proteger empresas nacionais pode gerar algum ganho artificial no curto prazo, mas sacrifica o desenvolvimento do país no futuro. A competição é a melhor garantia para o progresso.
Em um abuso da linguagem orwelliana, Chang chega a afirmar que, “paradoxalmente, a política de livre-comércio reduz a liberdade dos países em desenvolvimento que a praticam”. Bota paradoxo nisso! Como um povo pode perder liberdade ao receber mais liberdade para escolher de quem comprar os bens e serviços demandados, independente da nacionalidade do vendedor? Eis um mistério que somente o “duplipensar” pode explicar.
Chang entende os problemas da gestão estatal, como o uso do dinheiro da “viúva”, o orçamento ilimitado e a falta de incentivos adequados. Mas ele acha que o mesmo se dá no setor privado, na mesma escala. Para defender este estranho ponto, ele cita exemplos de fracassos no setor privado, como a WorldCom, e supostos casos de sucesso de empresas estatais, como a Petrobrás e Embraer no Brasil, e a POSCO na Coréia. Ele apela para a falácia de usar alguns casos isolados para concluir algo generalizado. Além disso, ele ignora o custo de oportunidade, ou seja, como teriam sido utilizados os recursos drenados pelo governo para sustentar por tanto tempo essas estatais.
Como já alertava Bastiat, existe aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Para a Petrobrás atingir uma tecnologia de ponta em águas profundas, quanto custou ao país suas décadas de monopólio garantido pelo governo? Como estaria o setor atualmente se o governo tivesse permitido a livre concorrência desde cedo, incluindo empresas estrangeiras? O caso da Embraer é ainda mais enganoso: o governo sustentou a empresa deficitária por anos, e apenas com sua privatização ela realmente deslanchou. A POSCO foi privatizada como um conglomerado bastante ineficiente, que investia em diversos setores sem ligação alguma.
Mas para Chang, se existem alguns casos de “sucesso” de empresas que nasceram estatais, como Nokia ou Toyota, então é justificável o governo investir, subsidiar e proteger empresas pelo tempo que for necessário. Chang frisa que está falando de um longo período mesmo, algo como décadas ou mesmo um século!
A inversão que Chang faz em relação ao foco no longo prazo é total. Para ele, apenas o governo tem esse foco, enquanto o capitalista quer somente o lucro imediato. É justamente o contrário. O político foca nas próximas eleições, pois precisa ser eleito para sobreviver como político; enquanto o capitalista foca na maximização do valor presente dos fluxos de caixa, muitas vezes distantes no tempo.
Para Chang, entre as principais causas da corrupção estão a baixa receita tributária do governo e os salários baixos dos funcionários públicos (que no Brasil ganham, na média, o triplo do que ganha o setor privado). Reduzir as regulamentações, a burocracia e a quantidade de recursos que transita pelo governo levaria a um aumento da corrupção! Ele diz com todas as letras: “A corrupção normalmente existe porque há muitas forças de mercado, não poucas”. A Rússia que o diga! Ou o Brasil também, um país com problema crônico de corrupção e um governo totalmente inchado. Chang parece defender o uso de sanguessugas para curar a leucemia.
Chang se coloca como o “bom samaritano” em defesa dos países pobres, mas, na verdade, ele é apenas o defensor dos ricos dos países pobres. Seu discurso nacionalista e protecionista seria abraçado com empolgação pelos grandes empresários da FIESP, por exemplo, interessados em barrar a livre concorrência que vem de fora. Nenhum “lobista” dos grandes grupos de interesse dos países pobres poderia contar com um apoio mais sintonizado que aquele oferecido por Chang. Após expor tantas falácias, pode-se concluir apenas uma coisa: com “bons samaritanos” como o senhor Chang, os pobres dos países subdesenvolvidos não precisam de inimigos!