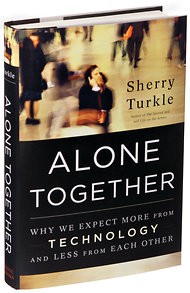By SEN. JIM DEMINT, POLITICO
In the run-up to the financial crisis, the Federal Reserve fueled the housing bubble with its easy money policy. Now, we know that after the crisis struck, the Fed secretly propped up elite bankers all the way from Wall Street to Brussels to the Central Bank of Libya.
A Bloomberg news investigation found that while the Treasury Department was pumping $700 billion into banks under the Troubled Asset Relief Program, the Fed was covertly operating its own bailout program – the biggest in American history. The Fed’s Shadow TARP issued $1.2 trillion in loans to domestic and foreign banks from 2007 to 2010, far more than Congress authorized Treasury to spend under TARP.
The bailouts were supposed to revive the economy, but all they have done is institutionalize too-big-to-fail policies that put American taxpayers on the hook for reckless and irresponsible actors in the global financial system.
Shadow TARP is just one of many unilateral actions the out-of-control Fed has taken over the last few years. Trillions more in aggregate lending authority was offered to banks by the Fed, without the public’s knowledge. And the Fed printed an additional $2 trillion to buy up government debt and toxic mortgage-backed securities in two controversial rounds of so-called quantitative easing.
Left to its own devices, the Fed would have never revealed its secret bailout. Fed Chairman Ben Bernanke said in an April 2009 speech that disclosing the names of the borrowers “might lead market participants to infer weakness.” To obtain the names, Bloomberg LP, the parent company of Bloomberg News, waged a two-year legal battle that was ultimately won in the U.S. Supreme Court.
While the Fed was fighting Bloomberg’s Freedom of Information Act requests, it was also opposing attempts by Congress to audit the central bank for the first time in its 98-year history. Bernanke, who only has his position because Congress delegated its power to coin money to the Fed, testified the audit would “effectively be a takeover of policy by the Congress."
Congress eventually approved a partial audit that showed the Fed extended an incredible $16 trillion – more than the entire U.S. economy – in aggregate lending authority to foreign and domestic banks from the end of 2007 to the middle of 2010. Still, no one knows how or why those decisions were made.
The Fed may be independent, but that does not mean it should be unrestrained or unaccountable. Earlier this year, it surpassed China as the single largest holder of U.S. debt. Since the beginning of 2011, the Fed’s purchases of Treasury debt equal almost 90 percent of the increase in total public debt outstanding.
Leaders from around the world have openly complained about the way the U.S. is intentionally weakening the dollar, since doing so cheapens the value of U.S. debt they hold. After the second round of quantitative easing was announced, Chinese Vice Finance Minister Zhu Guangyao said America “does not recognize, as a country that issues one of the world’s major reserve currencies, its obligation to stabilize capital markets.”
German Finance Minister Wolfgang Schaeuble was more blunt, calling the Fed “clueless.”
Americans are feeling inflationary pangs at home, too. The congressional Joint Economic Committee found that since the Fed launched its program of quantitative easing in late November 2008, the value (trade weighted) of the U.S. dollar has declined 14 percent, which translates into higher food and fuel costs.
The United States simply cannot print its way out of a recession. But the Fed doesn’t appear willing to reverse its policy of debasement or be any more transparent in its future efforts.
However it may displease officials at the Fed, it’s still subject to Congress. America is not subject to the Fed. The five members of the Federal Reserve Board who orchestrated a bigger bailout than all 535 members of Congress ever have must be held accountable.
Unfortunately, when Barack Obama became president, he opted not to replace Fed leadership, which helped create and prolong the deep recession that continues to strangle our country’s economic growth.
Going from bad to worse was certainly not the change Americans had in mind when they elected Obama. Positive change will require electing a new president in 2012 who won’t tolerate a secret-keeping Fed any longer and who will finally put an end to the bailouts once and for all.
Sen. Jim DeMint (R-S.C.) serves on the Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee.
Idéias de um livre pensador sem medo da polêmica ou da patrulha dos "politicamente corretos".
quarta-feira, agosto 31, 2011
terça-feira, agosto 30, 2011
A deusa da modernidade
Rodrigo Constantino, para a revista VOTO
Muitos são aqueles que depositam uma fé quase absoluta no poder da ciência. De fato, o avanço obtido nos últimos séculos graças à ciência é realmente espantoso. Para ficar num único exemplo, a expectativa média de vida nos países mais desenvolvidos dobrou em tempo relativamente curto, ultrapassando hoje a marca de 80 anos. Pode-se falar também das inúmeras doenças que antes matavam e atualmente possuem tratamento e cura. Mas será que isso tudo produziu um otimismo exacerbado com o poder da ciência?
Acredito que sim. E vou além: penso que um dos sintomas da modernidade é justamente esta esperança religiosa na onipotência científica. Com a “morte” de Deus decretada por Nietzsche, muitos órfãos foram buscar na ciência uma nova deusa, capaz de nos oferecer algo próximo de uma vida “eterna” e também feliz. Constatar isso não é o mesmo que atacar a ciência, mas sim o cientificismo, ou seja, o mal uso da ciência. Quando se trata das ciências humanas, esta postura que eleva a ciência ao patamar divino é extremamente perigosa.
Quem talvez melhor antecipou esta tendência moderna foi Aldous Huxley, com seu “Admirável Mundo Novo”, escrito em 1932. O livro faz um importante alerta contra a esperança desmesurada na ciência para organizar sociedades e garantir a felicidade dos homens. Na distopia de Huxley, todos seriam condicionados desde cedo, acostumando-se a se sentir feliz com as imposições do Estado. Ao contrário de George Orwell em “1984”, não nos tornaríamos escravos pela vigilância ininterrupta do Grande Irmão, mas sim pela nossa própria fraqueza: a busca incondicional da “felicidade”.
A conversa entre o poderoso Administrador e o Selvagem, aquele que vivia à margem desta nova sociedade, reflete a essência da coisa quando o primeiro diz: “O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança; nunca adoecem; não têm medo da morte; vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice; não se acham sobrecarregadas de pais e mães; não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas; são condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar mal, há o soma. Que o senhor atira pela janela em nome da liberdade, Sr. Selvagem. Da liberdade!”
Mas se não é esta liberdade, esta consciência da morte, esta imprevisibilidade da vida, estas aflições em família, estas paixões todas que nos fazem justamente humanos! O que a sociedade “científica” retratada por Huxley produz são seres autômatos, robotizados, que apenas aparentam felicidade. Uma felicidade bovina, conquistada, quando necessário, à base de soma, a “droga da felicidade”. Reclamar o direito de sofrer, de viver as angústias da vida, isso era a postura absurda ali. Será que a sociedade atual, voraz consumidora de Prozac sob o mínimo sinal de sofrimento, não caminha nesta mesma direção? Quem suporta a angústia do outro atualmente?
O mundo moderno parece tão obcecado com esta “felicidade” a qualquer custo que um país, o Butão, chegou a criar o indicador de Felicidade Interna Bruta, em substituição ao Produto Interno Bruto. O renomado economista Jeffrey Sachs tenta exportar a idéia para o mundo todo. Não importa que felicidade seja algo totalmente subjetivo. Não importa que nem tudo na vida seja a felicidade, ou pior, a aparência de felicidade. O objetivo é criar uma legião de “happy people”, que acha graça de tudo e foge das angústias como o diabo foge da cruz. Quando bate algum sofrimento, não tem problema: temos o soma, o Prozac, os programas de televisão, o Ipad. Quem liga para a concentração de poder no governo quando se pode assistir em paz o futebol ou o carnaval?
É proibido sofrer. Este parece ser o lema da atualidade. Adicionaria mais um: é proibido morrer! A ciência vai nos trazer a sonhada imortalidade. Viveremos 150 anos em breve, ou mais! Esquece-se de perguntar apenas uma coisa: qual vida? A paranóia com a saúde perfeita é outro claro sintoma da modernidade. A obsessão com os alimentos, a cruzada moral anti-tabagista, tudo isso aponta para uma sociedade doente. Não do corpo, mas da mente. Não vamos esquecer que os nazistas também compartilhavam dessa meta da “higiene total”.
Recentemente, assisti a um ótimo filme, “Sem Limites”, com Bradley Cooper e Robert De Niro. Trata-se da história de uma nova droga que aumenta exponencialmente a inteligência e a concentração do usuário. Uma espécie de metanfetamina elevada a enésima potência. Uma vez mais, é a ciência oferecendo o sonho da onipotência humana. Hoje em dia, loucos são os que desconfiam deste poder divino da ciência. Tal qual o alienista de Machado de Assis, aguardamos ansiosos o sábio Simão Bacamarte para nos curar da loucura. Qualquer sinal de desequilíbrio emocional, detectado pela ciência e pela Razão, será suficiente para ser trancafiado na Casa Verde. Como no livro, o mais louco de todos acaba sendo aquele que pensa ser o mais racional e científico.
Brasil = Grécia?
Situação fiscal do Brasil é semelhante à da Grécia, afirma ex-presidente do BC
A diferença é que, por ter o maior juro do mundo, o Brasil tem mais facilidade para rolar sua dívida
Anne Warth e Francisco Carlos de Assis, da Agência Estado
SÃO PAULO - A situação fiscal do Brasil é hoje muito semelhante à da Grécia, avalia o ex-presidente do Banco Central (BC) e sócio da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco. A diferença, segundo ele, é que, por ter a mais alta taxa básica de juros do mundo, o Brasil tem maior facilidade para rolar sua dívida que a média dos países que formam o chamado grupo dos PIIGS - Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia. Franco se baseia em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Em 2007, a Grécia possuía um nível de dívida com vencimento de curto prazo de 13% do Produto Interno Bruto (PIB), proporção inferior aos números do Brasil, que chegavam a 17,7%. Mesmo em 2011, o Brasil ainda possui uma dívida de curto prazo equivalente a 16,9% do PIB, nível superior ao da Grécia, de 16,6%.
A maior diferença entre Brasil e Grécia, segundo o FMI, residia no déficit nominal, que em 2007 correspondia a 6,7% do PIB grego - e neste ano aumentou para 7,4%, enquanto o déficit nominal brasileiro, que era de 2,7% do PIB em 2007, caiu para 2,4% neste ano. Somados o déficit nominal e a dívida a vencer no curto prazo, que correspondem à necessidade de financiamento do setor público, em 2007 o endividamento da Grécia era de 19,7% do PIB e o do Brasil alcançava 20,4%. Em 2011, a situação se inverteu, com a dívida grega aumentando para 24% do PIB e a do Brasil caindo para 19,3%.
'Rolagem de dívida pode se tornar todo o problema'
"No decorrer do tempo, nos acostumamos a ignorar essa história da rolagem da dívida porque é algo meio automático. A gente não presta atenção, não vê que isso é um problema. Basta olhar o que a Grécia está passando nos dias de hoje para ver que, às vezes, a rolagem da dívida pode se tornar todo o problema", afirmou Franco. "A dívida é déficit acumulado. São as nossas irresponsabilidades acumuladas no passado e que não vão desaparecer."
Na avaliação de Franco, o endividamento de curto prazo é uma das explicações para que o Brasil mantenha uma taxa de juros tão elevada, bem acima da média mundial. "Os juros opressivamente altos que temos no Brasil têm a ver com esse custo de um sistema de rolagem de dívida que faz com que nós, brasileiros, carreguemos um montante de dívida do governo que não gostaríamos de carregar em condições normais", disse.
De acordo com o Franco, isso ficou claro em 2009 e 2010, quando o BC não pôde reduzir a Selic além dos 8,75% ao ano para impedir uma corrida dos recursos aplicados em títulos públicos para a caderneta de poupança e para a Bolsa de Valores. "Vimos os perigos de o dinheiro fugir para a caderneta de poupança e aí ele entraria num circuito meio viciado de crédito subsidiado e fundings regulatórios subsidiados", afirmou. "Veríamos o dinheiro saindo do financiamento dos títulos públicos e indo para a bolsa e outras aplicações. Provavelmente o Brasil não conseguiria rolar 17% do PIB todo ano se não tivesse uma taxa de juros muito alta."
Juros altos são o preço de despesas e impostos elevados
Franco explica que, para reduzir os juros, a situação fiscal do País deveria estar em condições muito melhores. "Aqui começamos a ver a importância dessa jabuticaba, os juros altos, que não entendemos bem", disse. O economista considera que os juros altos são o preço que o Brasil paga por não ter uma política de austeridade fiscal. "A dívida de hoje são os impostos de amanhã. A menos que usemos truques e bruxarias, os juros que pagamos hoje são o preço de não baixarmos os impostos e as despesas, empurrando o problema para as mãos daqueles que estão ausentes na discussão política: nossas futuras gerações", afirmou.
Segundo o ex-presidente do BC, a situação é agravada pelo fato de o Brasil não possuir, politicamente, uma maturidade para apresentar um orçamento claro e realista a respeito das receitas e despesas. "Se tivéssemos um orçamento realista, a avaliação seria feita corretamente, considerando o quanto custa ter aspirações em matéria de gastos superiores ao que a sociedade quer pagar de impostos."
Para Franco, a questão sobre o endividamento e a taxa de juros se assemelha à antiga correção monetária, que está para a inflação assim como o BNDES está para a taxa de juros. "É a falsa solução. Não resolve o problema. Na hiperinflação, a gente não podia fazer mais e melhor que a correção monetária para eliminar o problema da inflação e neutralizá-la completamente, assim como o BNDES nunca será do tamanho da economia para resolver o problema sozinho. A correção monetária, tal como o BNDES, é seletiva. E essa seletividade também tem lá seus defeitos."
Na opinião de Franco, a crise internacional, que evidencia uma exaustão fiscal em diversos países, pode contribuir para que esse debate seja feito no País. "Não se criou ainda o impulso político para arrumar as contas fiscais, movimento que deve abrir a janela para reduzir os juros", afirmou. "Talvez o próprio contexto internacional, onde a exaustão fiscal parece ser um bom título para o problema internacional, nos arraste para uma execução fiscal mais madura e organizada."
A diferença é que, por ter o maior juro do mundo, o Brasil tem mais facilidade para rolar sua dívida
Anne Warth e Francisco Carlos de Assis, da Agência Estado
SÃO PAULO - A situação fiscal do Brasil é hoje muito semelhante à da Grécia, avalia o ex-presidente do Banco Central (BC) e sócio da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco. A diferença, segundo ele, é que, por ter a mais alta taxa básica de juros do mundo, o Brasil tem maior facilidade para rolar sua dívida que a média dos países que formam o chamado grupo dos PIIGS - Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia. Franco se baseia em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Em 2007, a Grécia possuía um nível de dívida com vencimento de curto prazo de 13% do Produto Interno Bruto (PIB), proporção inferior aos números do Brasil, que chegavam a 17,7%. Mesmo em 2011, o Brasil ainda possui uma dívida de curto prazo equivalente a 16,9% do PIB, nível superior ao da Grécia, de 16,6%.
A maior diferença entre Brasil e Grécia, segundo o FMI, residia no déficit nominal, que em 2007 correspondia a 6,7% do PIB grego - e neste ano aumentou para 7,4%, enquanto o déficit nominal brasileiro, que era de 2,7% do PIB em 2007, caiu para 2,4% neste ano. Somados o déficit nominal e a dívida a vencer no curto prazo, que correspondem à necessidade de financiamento do setor público, em 2007 o endividamento da Grécia era de 19,7% do PIB e o do Brasil alcançava 20,4%. Em 2011, a situação se inverteu, com a dívida grega aumentando para 24% do PIB e a do Brasil caindo para 19,3%.
'Rolagem de dívida pode se tornar todo o problema'
"No decorrer do tempo, nos acostumamos a ignorar essa história da rolagem da dívida porque é algo meio automático. A gente não presta atenção, não vê que isso é um problema. Basta olhar o que a Grécia está passando nos dias de hoje para ver que, às vezes, a rolagem da dívida pode se tornar todo o problema", afirmou Franco. "A dívida é déficit acumulado. São as nossas irresponsabilidades acumuladas no passado e que não vão desaparecer."
Na avaliação de Franco, o endividamento de curto prazo é uma das explicações para que o Brasil mantenha uma taxa de juros tão elevada, bem acima da média mundial. "Os juros opressivamente altos que temos no Brasil têm a ver com esse custo de um sistema de rolagem de dívida que faz com que nós, brasileiros, carreguemos um montante de dívida do governo que não gostaríamos de carregar em condições normais", disse.
De acordo com o Franco, isso ficou claro em 2009 e 2010, quando o BC não pôde reduzir a Selic além dos 8,75% ao ano para impedir uma corrida dos recursos aplicados em títulos públicos para a caderneta de poupança e para a Bolsa de Valores. "Vimos os perigos de o dinheiro fugir para a caderneta de poupança e aí ele entraria num circuito meio viciado de crédito subsidiado e fundings regulatórios subsidiados", afirmou. "Veríamos o dinheiro saindo do financiamento dos títulos públicos e indo para a bolsa e outras aplicações. Provavelmente o Brasil não conseguiria rolar 17% do PIB todo ano se não tivesse uma taxa de juros muito alta."
Juros altos são o preço de despesas e impostos elevados
Franco explica que, para reduzir os juros, a situação fiscal do País deveria estar em condições muito melhores. "Aqui começamos a ver a importância dessa jabuticaba, os juros altos, que não entendemos bem", disse. O economista considera que os juros altos são o preço que o Brasil paga por não ter uma política de austeridade fiscal. "A dívida de hoje são os impostos de amanhã. A menos que usemos truques e bruxarias, os juros que pagamos hoje são o preço de não baixarmos os impostos e as despesas, empurrando o problema para as mãos daqueles que estão ausentes na discussão política: nossas futuras gerações", afirmou.
Segundo o ex-presidente do BC, a situação é agravada pelo fato de o Brasil não possuir, politicamente, uma maturidade para apresentar um orçamento claro e realista a respeito das receitas e despesas. "Se tivéssemos um orçamento realista, a avaliação seria feita corretamente, considerando o quanto custa ter aspirações em matéria de gastos superiores ao que a sociedade quer pagar de impostos."
Para Franco, a questão sobre o endividamento e a taxa de juros se assemelha à antiga correção monetária, que está para a inflação assim como o BNDES está para a taxa de juros. "É a falsa solução. Não resolve o problema. Na hiperinflação, a gente não podia fazer mais e melhor que a correção monetária para eliminar o problema da inflação e neutralizá-la completamente, assim como o BNDES nunca será do tamanho da economia para resolver o problema sozinho. A correção monetária, tal como o BNDES, é seletiva. E essa seletividade também tem lá seus defeitos."
Na opinião de Franco, a crise internacional, que evidencia uma exaustão fiscal em diversos países, pode contribuir para que esse debate seja feito no País. "Não se criou ainda o impulso político para arrumar as contas fiscais, movimento que deve abrir a janela para reduzir os juros", afirmou. "Talvez o próprio contexto internacional, onde a exaustão fiscal parece ser um bom título para o problema internacional, nos arraste para uma execução fiscal mais madura e organizada."
A fogueira das vaidades
JOÃO PEREIRA COUTINHO, Folha de SP
Os ricos que paguem a crise? Erro. Em Estados balofos são os pobres que acabarão por pagar
A estupidez não paga imposto. Pena. Depois de ler as palavras de Warren Buffett no "New York Times", a pedir mais impostos para ricos como ele, é a sua estupidez, não a sua riqueza, que deveria ser fortemente tributada.
Digo estupidez, mas digo mal. Vaidade, a palavra certa é vaidade. Entendo Buffett. Uma pessoa acumula uma fortuna colossal. Compra casas, carros. Excentricidades.
Mas eis que chega a gadanha do tédio para arranhar a nossa consciência mortal. Como resolver esse desconforto e fazer as pazes com a culpa primitiva?
Adotando, por exemplo. Celebridades de Hollywood foram cultivando a moda: viagens repetidas a África, Ásia e outros recantos de miséria, em busca do órfão respectivo. Toda a gente pode tomar o café da manhã na Tiffany, pelo menos a partir de um certo patamar (obrigado, Truman Capote).
Mas um órfão é outra história: exige trabalho, disponibilidade e uma dose maciça de sentimentalismo, que sempre comove as lentes fotográficas. Passear um diamante na passadeira vermelha é "kitsch". Passear um cambojano ou um etíope, o cúmulo da sofisticação. E quem não adota contribui. Tenho respeito pelos filantropos. Mas apenas pelos filantropos anônimos, que partilham a fortuna anonimamente. Não é preciso ler Kant para saber que a base da moralidade é o ato de tratar alguém como um fim, não como um meio.
Infelizmente, os filantropos que conheço, alguns pessoalmente, gostam de ajudar os pobres desde que isso renda boas matérias de jornal. O efeito, por vezes, é irônico e até perverso: eles querem partilhar a fortuna; mas, à custa da propaganda, multiplicam a fortuna porque os consumidores gostam de premiar a "consciência social".
Caro leitor: se você é rico, ou deseja ser mais rico, esqueça os mecanismos vulgares de gerar riqueza. O melhor negócio é adotar um sudanês (nunca um brasileiro!) e montar uma fundação humanitária com o seu nome em letras garrafais.
Ou então pedir mais impostos sobre sua própria fortuna. Fato: nenhum imposto especial sobre os ricos resolve os problemas estruturais dos países deficitários do Ocidente. Pelo contrário, agrava-os (já lá irei). Mas, pelo menos, consola a alma e, no caso de Warren Buffett, faz sucesso dentro e fora de portas.
Dentro de portas, já há mais bilionários americanos na fila, dispostos a ceder fortunas na fogueira das vaidades. Fora de portas, 16 bilionários franceses pediram tratamento de chicote. "Noblesse oblige": o governo Sarkozy promete descer o dito cujo sobre contribuintes cujas receitas fiscais superem € 1 milhão.
E até no exaurido Portugal, onde bato estas linhas, a ideia de Buffett promete frutificar, com presidente da República e primeiro-ministro a aceitarem um dos mantras mais famosos do "verão revolucionário" de 1975: os ricos que paguem a crise. Os ricos prometem pagar, claro. Pelo menos aqueles que não tencionam fazer as malas e fugir.
Moral da história? Não vale a pena repetir o óbvio: um sistema fiscal justo é aquele em que quem tem mais contribui com mais. Mas é também um sistema que não demoniza a riqueza e aqueles que a criam. Exceto se o modelo de sociedade ideal estiver em Cuba ou na Coreia do Norte, onde os únicos recursos são a fome e a violência.
Até Marx, que não era propriamente um capitalista (Engels fazia esse serviço por ele), sabia que, sem riqueza criada, não há riqueza para redistribuir. Nem riqueza, nem investimento, nem emprego.
Quando alguns ricos abrem as portas às predações do Estado, seja por vaidade ou interesse, eles não resolvem coisa nenhuma com suas esmolas generosas.
Apenas consolam o ego; afugentam parceiros sem sentimentos de culpa para outras paragens; e, pior, ajudam a perpetuar a exata doença que tem enterrado a Europa e os Estados Unidos: Estados falidos que, incapazes de controlar gastos, persistem de forma suicida num "modelo social" insustentável no século 21. Um modelo que, quando estourar, não vai estourar em cima de Warren Buffett e amigos. Vai estourar sobre os pobres e remendados.
Os ricos que paguem a crise? Erro. Em Estados balofos e sem incentivo para reformarem seus modos de vida, são os pobres que acabarão por pagar.
Os ricos que paguem a crise? Erro. Em Estados balofos são os pobres que acabarão por pagar
A estupidez não paga imposto. Pena. Depois de ler as palavras de Warren Buffett no "New York Times", a pedir mais impostos para ricos como ele, é a sua estupidez, não a sua riqueza, que deveria ser fortemente tributada.
Digo estupidez, mas digo mal. Vaidade, a palavra certa é vaidade. Entendo Buffett. Uma pessoa acumula uma fortuna colossal. Compra casas, carros. Excentricidades.
Mas eis que chega a gadanha do tédio para arranhar a nossa consciência mortal. Como resolver esse desconforto e fazer as pazes com a culpa primitiva?
Adotando, por exemplo. Celebridades de Hollywood foram cultivando a moda: viagens repetidas a África, Ásia e outros recantos de miséria, em busca do órfão respectivo. Toda a gente pode tomar o café da manhã na Tiffany, pelo menos a partir de um certo patamar (obrigado, Truman Capote).
Mas um órfão é outra história: exige trabalho, disponibilidade e uma dose maciça de sentimentalismo, que sempre comove as lentes fotográficas. Passear um diamante na passadeira vermelha é "kitsch". Passear um cambojano ou um etíope, o cúmulo da sofisticação. E quem não adota contribui. Tenho respeito pelos filantropos. Mas apenas pelos filantropos anônimos, que partilham a fortuna anonimamente. Não é preciso ler Kant para saber que a base da moralidade é o ato de tratar alguém como um fim, não como um meio.
Infelizmente, os filantropos que conheço, alguns pessoalmente, gostam de ajudar os pobres desde que isso renda boas matérias de jornal. O efeito, por vezes, é irônico e até perverso: eles querem partilhar a fortuna; mas, à custa da propaganda, multiplicam a fortuna porque os consumidores gostam de premiar a "consciência social".
Caro leitor: se você é rico, ou deseja ser mais rico, esqueça os mecanismos vulgares de gerar riqueza. O melhor negócio é adotar um sudanês (nunca um brasileiro!) e montar uma fundação humanitária com o seu nome em letras garrafais.
Ou então pedir mais impostos sobre sua própria fortuna. Fato: nenhum imposto especial sobre os ricos resolve os problemas estruturais dos países deficitários do Ocidente. Pelo contrário, agrava-os (já lá irei). Mas, pelo menos, consola a alma e, no caso de Warren Buffett, faz sucesso dentro e fora de portas.
Dentro de portas, já há mais bilionários americanos na fila, dispostos a ceder fortunas na fogueira das vaidades. Fora de portas, 16 bilionários franceses pediram tratamento de chicote. "Noblesse oblige": o governo Sarkozy promete descer o dito cujo sobre contribuintes cujas receitas fiscais superem € 1 milhão.
E até no exaurido Portugal, onde bato estas linhas, a ideia de Buffett promete frutificar, com presidente da República e primeiro-ministro a aceitarem um dos mantras mais famosos do "verão revolucionário" de 1975: os ricos que paguem a crise. Os ricos prometem pagar, claro. Pelo menos aqueles que não tencionam fazer as malas e fugir.
Moral da história? Não vale a pena repetir o óbvio: um sistema fiscal justo é aquele em que quem tem mais contribui com mais. Mas é também um sistema que não demoniza a riqueza e aqueles que a criam. Exceto se o modelo de sociedade ideal estiver em Cuba ou na Coreia do Norte, onde os únicos recursos são a fome e a violência.
Até Marx, que não era propriamente um capitalista (Engels fazia esse serviço por ele), sabia que, sem riqueza criada, não há riqueza para redistribuir. Nem riqueza, nem investimento, nem emprego.
Quando alguns ricos abrem as portas às predações do Estado, seja por vaidade ou interesse, eles não resolvem coisa nenhuma com suas esmolas generosas.
Apenas consolam o ego; afugentam parceiros sem sentimentos de culpa para outras paragens; e, pior, ajudam a perpetuar a exata doença que tem enterrado a Europa e os Estados Unidos: Estados falidos que, incapazes de controlar gastos, persistem de forma suicida num "modelo social" insustentável no século 21. Um modelo que, quando estourar, não vai estourar em cima de Warren Buffett e amigos. Vai estourar sobre os pobres e remendados.
Os ricos que paguem a crise? Erro. Em Estados balofos e sem incentivo para reformarem seus modos de vida, são os pobres que acabarão por pagar.
Economistas céticos com a mexida no superávit
Matéria no Hoje em Dia, jornal mineiro
"De geração mais recente que a de Raul Velloso, ligado ao setor financeiro e conselheiro do Instituto Federalista e do Instituto Mises Brasil, o economista Rodrigo Constantino segue linha mais pessimista e aponta debilitação coletiva dos governos para atacar a crise. "Acho que o risco (de recaída longa) aumentou muito e os governos e bancos centrais estão com menos munição para estimular as economias em uma reação. E não está havendo reação das economia. Os investidores estão receosos, os consumidores estão receosos. A economia (global) está embicando e se vai, de vez, mergulhar (na segunda perna) no 'W' (conceito para ilustrar previsões de crises), não sei. Mas a possibilidade aumentou muito. Ainda é um 'L', com 'japonização" da situação na Europa e nos Estados Unidos (crise que se alonga)", dissertou Constantino.
[...]
De olho na China
Para Constatinto, os problemas de agora afetam também os setores de serviços e commodities . Estes dois funcionaram como âncoras de sustentação em 2008. "Se as commodities baixam (nas cotações) é porque a China desacelerou. Até a política de crescimento depende disso", observa.
Neste item lembra da decisão da China, de reduzir em 80 milhões a produção de aço neste ano, que fez a cotação da tonelada do minério de ferro cair para US$ 170.
Na palestra, Raul Velloso coincidiu também em que o Brasil perdeu sua chance em 2008. "Tivemos uma tolerância (chance), em 2008. E o Brasil pode se dar ao luxo de não adotar medidas importantes. Mas hoje, a situação é outra. E o país terá que fazer alguma coisa (medida drástica)", previu.
Bancos
Constantino aponta uma "postura errada" dos governos da Europa, em 2008, nas relações com os bancos e que funcionou como parte da causa desta recaída da economia mundial. "Eles maquiaram a realidade de seus bancos. Banco tem que quebrar também. As negociações (em 2008) criaram bancos 'zumbis'. O risco da sustentação deles é previsível, E, agora, a única saída é a nacionalização, que vai castigar o contribuinte", criticou."
"De geração mais recente que a de Raul Velloso, ligado ao setor financeiro e conselheiro do Instituto Federalista e do Instituto Mises Brasil, o economista Rodrigo Constantino segue linha mais pessimista e aponta debilitação coletiva dos governos para atacar a crise. "Acho que o risco (de recaída longa) aumentou muito e os governos e bancos centrais estão com menos munição para estimular as economias em uma reação. E não está havendo reação das economia. Os investidores estão receosos, os consumidores estão receosos. A economia (global) está embicando e se vai, de vez, mergulhar (na segunda perna) no 'W' (conceito para ilustrar previsões de crises), não sei. Mas a possibilidade aumentou muito. Ainda é um 'L', com 'japonização" da situação na Europa e nos Estados Unidos (crise que se alonga)", dissertou Constantino.
[...]
De olho na China
Para Constatinto, os problemas de agora afetam também os setores de serviços e commodities . Estes dois funcionaram como âncoras de sustentação em 2008. "Se as commodities baixam (nas cotações) é porque a China desacelerou. Até a política de crescimento depende disso", observa.
Neste item lembra da decisão da China, de reduzir em 80 milhões a produção de aço neste ano, que fez a cotação da tonelada do minério de ferro cair para US$ 170.
Na palestra, Raul Velloso coincidiu também em que o Brasil perdeu sua chance em 2008. "Tivemos uma tolerância (chance), em 2008. E o Brasil pode se dar ao luxo de não adotar medidas importantes. Mas hoje, a situação é outra. E o país terá que fazer alguma coisa (medida drástica)", previu.
Bancos
Constantino aponta uma "postura errada" dos governos da Europa, em 2008, nas relações com os bancos e que funcionou como parte da causa desta recaída da economia mundial. "Eles maquiaram a realidade de seus bancos. Banco tem que quebrar também. As negociações (em 2008) criaram bancos 'zumbis'. O risco da sustentação deles é previsível, E, agora, a única saída é a nacionalização, que vai castigar o contribuinte", criticou."
Buffett's Latest Tax Break
Editorial do WSJ
For a guy who spends a lot of time advocating for higher taxes, Warren Buffett does a remarkably good job of minimizing his own corporate tax bill. This is all to the good for Mr. Buffett and his fellow Berkshire Hathaway shareholders, who no doubt can invest the money more wisely than the federal government is likely to do.
Mr. Buffett's recent decision to invest in Bank of America represents another tax-avoidance triumph for the Berkshire chief executive. U.S. corporations are subject to a top federal income tax rate of 35%, the second highest in the world. But the Journal's Erik Holm notes that Mr. Buffett and the Berkshire bunch won't pay anything close to that on their investment in BofA preferred shares.
That's because corporations can exclude from taxation 70% of the dividends they receive from an investment in another corporation. This exclusion is intended to prevent double- or even triple-taxation as money is earned by one company, paid to another company and then ultimately paid out to shareholders. The policy makes sense; we only wonder why the exclusion isn't 100%.
With the 70% exclusion for Mr. Buffett and his fellow shareholders, Berkshire will enjoy an effective tax rate of 10.5% on the $300 million in dividends it will receive each year from Bank of America.
We're tempted to suggest that Mr. Buffett should do what he might call the patriotic thing and volunteer Berkshire to pay the full 35% rate as a good corporate citizen. But even if Mr. Buffett won't say it, most Americans know that more jobs will be created if the money is deployed by the Berkshire bunch than by the Beltway boys.
For a guy who spends a lot of time advocating for higher taxes, Warren Buffett does a remarkably good job of minimizing his own corporate tax bill. This is all to the good for Mr. Buffett and his fellow Berkshire Hathaway shareholders, who no doubt can invest the money more wisely than the federal government is likely to do.
Mr. Buffett's recent decision to invest in Bank of America represents another tax-avoidance triumph for the Berkshire chief executive. U.S. corporations are subject to a top federal income tax rate of 35%, the second highest in the world. But the Journal's Erik Holm notes that Mr. Buffett and the Berkshire bunch won't pay anything close to that on their investment in BofA preferred shares.
That's because corporations can exclude from taxation 70% of the dividends they receive from an investment in another corporation. This exclusion is intended to prevent double- or even triple-taxation as money is earned by one company, paid to another company and then ultimately paid out to shareholders. The policy makes sense; we only wonder why the exclusion isn't 100%.
With the 70% exclusion for Mr. Buffett and his fellow shareholders, Berkshire will enjoy an effective tax rate of 10.5% on the $300 million in dividends it will receive each year from Bank of America.
We're tempted to suggest that Mr. Buffett should do what he might call the patriotic thing and volunteer Berkshire to pay the full 35% rate as a good corporate citizen. But even if Mr. Buffett won't say it, most Americans know that more jobs will be created if the money is deployed by the Berkshire bunch than by the Beltway boys.
segunda-feira, agosto 29, 2011
Cadastro Thanatos
Luiz Felipe Pondé, Folha de SP
CERTA VEZ, como nos conta Gustav Janouch, em seu livro "Conversações com Kafka", ele reclamou que não estava entendendo nada que Kafka falava (os dois tinham o hábito de conversar caminhando por Praga).
Kafka teria respondido algo assim: "Hoje estou tão pessimista que deve ser a misericórdia de Deus que está protegendo você. Pois, se me entendesse, sendo você ainda muito jovem, o que estou dizendo lhe destruiria".
Será que Deus vai protegê-lo hoje, caro leitor?
Você é daquele tipo de pessoa que pensa no que come todos os dias? Conta calorias? Parabéns se você for, porque ganhará desconto no seguro saúde.
Muita gente acha que Aldous Huxley, em seu livro "Admirável Mundo Novo", se enganou, porque o mundo não marchou em direção a regimes totalitários.
Eu acho que ele acertou em tudo, inclusive na possibilidade de governos totalitários. Veja o caso da China. Se as pessoas tiverem comida e iPads elas estarão dispostas a abrir mão de tudo, mesmo dessa bobagem chamada democracia. Pisarão em qualquer cabeça por um iPad, como antes pisavam por qualquer outra bobagem.
É isso que as "cheerleaders" dos saques em Londres (essa farra das redes sociais) não entendem. Além do problema do governo centralizador, o equívoco em achar que Huxley errou está em não perceber que a chave do controle das vidas não está em formas centralizadoras de governo, mas em não percebermos que somos nós mesmos que pedimos controle sobre nossas vidas em troca de formas variadas de felicidade e segurança.
O que Huxley entendeu, e nós, não, é que a ganância pela felicidade (a saúde total é apenas uma de suas formas mais bregas) nos levaria ao admirável mundo novo.
Meu Deus, por que temos de ser uma espécie assim tão infeliz? Por um lado, a vida é dura o bastante para querermos (com razão) ser felizes, mas, por outro lado, a busca pela felicidade nos faz de gado alegre. Escolha maldita: ser infeliz, morrer jovem ou virar gado e ter uma dieta balanceada. E para tal, estaremos dispostos a ter fiscais de nossos hábitos cotidianos de saúde em nossas cozinhas.
Nessas horas, sinto o pessimismo tomar conta de mim como um líquido negro e viscoso a entrar pela minha boca e pelo meu nariz, fazendo-me engasgar. Vejo o mundo como um parque zoológico de pessoas sorridentes e saudáveis, todas felizes em ter um "retorno" financeiro em troca de abrir suas casas e suas vidas para profissionais de "qualidade de vida" avaliarem suas refeições diárias.
Você ouve o interfone tocar? É ela, a avaliadora de sua qualidade de vida. Sorria e acima de tudo tenha em mãos as provas de que colabora com a sua própria saúde. Não seja um inimigo de sua própria felicidade fisiológica. Seja pró-ativo.
Imagino alguém bonito, simpático, espiritualizado, provavelmente um budista light, checando os nutrientes na alimentação da sua família. Talvez você possa agendar a visita via internet -afinal hoje em dia ninguém tem tempo pra nada, não é?
Imagine o número de empregos para as novas xamãs do mundo, as nutricionistas...
Se, desde cedo, você tomar as decisões alimentícias corretas para seus filhos, provavelmente a apólice de seguro saúde deles sairá bem mais em conta. Meus olhos se enchem de lágrimas ao perceber como o mundo melhora a cada passo.
A lógica de fundo é que ninguém racional quer morrer cedo, logo, só uma pessoa irracional, contraproducente, antissocial e, por fim, passível de alguma forma de punição, seria capaz de não ver isso tudo como um passo justo para "agregar valor" a nossa vida.
Aliás, uma pessoa assim, intratável, talvez, devesse num futuro próximo ser multada, porque ela não só onera os custos de seguro saúde da família como os da empresa de seguro saúde e, por fim, os do próprio Estado. Quem sabe devêssemos "evoluir" para a proibição de contas bancárias, crédito ao consumidor ou mesmo passaporte?
Quem sabe o Ministério da Saúde poderia criar um cadastro de pessoas inadimplentes em cuidados com a própria qualidade de vida. O nome poderia ser CTH (Cadastro Thanatos).
CERTA VEZ, como nos conta Gustav Janouch, em seu livro "Conversações com Kafka", ele reclamou que não estava entendendo nada que Kafka falava (os dois tinham o hábito de conversar caminhando por Praga).
Kafka teria respondido algo assim: "Hoje estou tão pessimista que deve ser a misericórdia de Deus que está protegendo você. Pois, se me entendesse, sendo você ainda muito jovem, o que estou dizendo lhe destruiria".
Será que Deus vai protegê-lo hoje, caro leitor?
Você é daquele tipo de pessoa que pensa no que come todos os dias? Conta calorias? Parabéns se você for, porque ganhará desconto no seguro saúde.
Muita gente acha que Aldous Huxley, em seu livro "Admirável Mundo Novo", se enganou, porque o mundo não marchou em direção a regimes totalitários.
Eu acho que ele acertou em tudo, inclusive na possibilidade de governos totalitários. Veja o caso da China. Se as pessoas tiverem comida e iPads elas estarão dispostas a abrir mão de tudo, mesmo dessa bobagem chamada democracia. Pisarão em qualquer cabeça por um iPad, como antes pisavam por qualquer outra bobagem.
É isso que as "cheerleaders" dos saques em Londres (essa farra das redes sociais) não entendem. Além do problema do governo centralizador, o equívoco em achar que Huxley errou está em não perceber que a chave do controle das vidas não está em formas centralizadoras de governo, mas em não percebermos que somos nós mesmos que pedimos controle sobre nossas vidas em troca de formas variadas de felicidade e segurança.
O que Huxley entendeu, e nós, não, é que a ganância pela felicidade (a saúde total é apenas uma de suas formas mais bregas) nos levaria ao admirável mundo novo.
Meu Deus, por que temos de ser uma espécie assim tão infeliz? Por um lado, a vida é dura o bastante para querermos (com razão) ser felizes, mas, por outro lado, a busca pela felicidade nos faz de gado alegre. Escolha maldita: ser infeliz, morrer jovem ou virar gado e ter uma dieta balanceada. E para tal, estaremos dispostos a ter fiscais de nossos hábitos cotidianos de saúde em nossas cozinhas.
Nessas horas, sinto o pessimismo tomar conta de mim como um líquido negro e viscoso a entrar pela minha boca e pelo meu nariz, fazendo-me engasgar. Vejo o mundo como um parque zoológico de pessoas sorridentes e saudáveis, todas felizes em ter um "retorno" financeiro em troca de abrir suas casas e suas vidas para profissionais de "qualidade de vida" avaliarem suas refeições diárias.
Você ouve o interfone tocar? É ela, a avaliadora de sua qualidade de vida. Sorria e acima de tudo tenha em mãos as provas de que colabora com a sua própria saúde. Não seja um inimigo de sua própria felicidade fisiológica. Seja pró-ativo.
Imagino alguém bonito, simpático, espiritualizado, provavelmente um budista light, checando os nutrientes na alimentação da sua família. Talvez você possa agendar a visita via internet -afinal hoje em dia ninguém tem tempo pra nada, não é?
Imagine o número de empregos para as novas xamãs do mundo, as nutricionistas...
Se, desde cedo, você tomar as decisões alimentícias corretas para seus filhos, provavelmente a apólice de seguro saúde deles sairá bem mais em conta. Meus olhos se enchem de lágrimas ao perceber como o mundo melhora a cada passo.
A lógica de fundo é que ninguém racional quer morrer cedo, logo, só uma pessoa irracional, contraproducente, antissocial e, por fim, passível de alguma forma de punição, seria capaz de não ver isso tudo como um passo justo para "agregar valor" a nossa vida.
Aliás, uma pessoa assim, intratável, talvez, devesse num futuro próximo ser multada, porque ela não só onera os custos de seguro saúde da família como os da empresa de seguro saúde e, por fim, os do próprio Estado. Quem sabe devêssemos "evoluir" para a proibição de contas bancárias, crédito ao consumidor ou mesmo passaporte?
Quem sabe o Ministério da Saúde poderia criar um cadastro de pessoas inadimplentes em cuidados com a própria qualidade de vida. O nome poderia ser CTH (Cadastro Thanatos).
sábado, agosto 27, 2011
Solidão coletiva
Rodrigo Constantino
"Um paciente chegou no consultório médico e disse: - Doutor, não levanto a cabeça, não falo com ninguém, quando falam comigo não presto atenção, pareço um idiota. O que eu tenho, doutor? Um Blackberry, respondeu o médico”. Toda piada tem um fundo de verdade, como dizem. Neste caso, ela é a mais pura verdade. As aceleradas mudanças tecnológicas estão produzindo grandes mudanças sociais também. Aonde isso vai parar, ninguém sabe ainda.
Preocupada com tendências desta natureza, a especialista do MIT, Sherry Turkle, reuniu no livro Alone Together décadas de experiência no estudo do impacto social da tecnologia. Como o subtítulo já diz, ela tenta responder porque esperamos mais da tecnologia e menos de cada um. Na primeira parte do livro, o foco é voltado para os robôs sociais, e como isso afeta os seres humanos. Na segunda parte, ela trata das redes sociais, da conectividade ininterrupta e de como estamos perdendo intimidade com isso. Em resumo, o mundo estaria cada vez mais habitado por pessoas interligadas sempre, mas mais solitárias ainda.
Antes de dar prosseguimento aos principais pontos da autora, gostaria de destacar que é típico dos homens desconfiar de avanços tecnológicos. Como já sabia o filósofo David Hume, "o hábito de culpar o presente e admirar o passado está profundamente arraigado na natureza humana". O desconhecido assusta. Dito isso, creio que existem mudanças que realmente despertam apreensão legítima, as quais compartilho com Turkle. Estarmos atentos a estes riscos é um passo importante para mitigar os problemas que inevitavelmente irão surgir com os novos hábitos.
Muitos encaram computadores e aparelhos tecnológicos como simples ferramentas, mas ignoram que os seres humanos muitas vezes são moldados por tais ferramentas. No mundo moderno, o medo da decepção nos relacionamentos com outros seres humanos, que sempre existiu, encontrou uma poderosa válvula de escape nos robôs e redes sociais. Esta fuga não se dá sem custos. Alguns já começam a tratar as máquinas como se tivessem qualidades humanas, e os humanos como se fossem objetos descartáveis. A vida virtual deixa de ser uma simples fuga temporária das agruras da vida real, para se transformar na própria vida principal do indivíduo. Ficamos menos humanos neste processo.
Nós somos seres vulneráveis, solitários e com medo da intimidade. As conexões digitais oferecem a ilusão de companhia, sem as demandas da amizade. As pessoas se tornam descartáveis. Todos “curtem” a “felicidade” alheia. A autenticidade é substituída por avatares, por perfis irreais que criamos para evitar nossas imperfeições reais. A tensão presente no encontro pessoal dá lugar à blindagem da tela do computador ou à garantia de que um robô jamais irá nos trair. Pessoas são arriscadas; robôs ou amigos virtuais são seguros. Mas esta é uma falsa segurança, que existe apenas com o preço de anular qualquer relação realmente humana.
Assim como Turkle, eu consigo enxergar o lado positivo das mudanças. Podemos encontrar e manter contato com velhos amigos, famílias separadas geograficamente podem ficar conectadas mais facilmente, a recreação comedida é saudável, temos mais acesso a informação, comércio, etc. Mas nem por isso devemos fechar os olhos para o lado negativo. Ele existe. Infelizmente, muitos descartam os alertas como mera nostalgia ou algum impulso retrógrado, como no caso dos ludistas na Revolução Industrial. Creio ser um engano agir assim. Alguns efeitos negativos não devem ser menosprezados de forma alguma, em minha opinião.
A primeira parte do livro, que lida com os robôs sociais, ainda parece distante da realidade brasileira. Alguns insights, todavia, são importantes. Afinal, é o que nos espera. No Japão, idosos já estão sendo cuidados por robôs, e crianças também desfrutam de babás robôs. Turkle realizou inúmeras experiências e relata várias delas no livro. Um dos riscos principais, segundo ela, é que o relacionamento com robôs não ensina estas crianças nada sobre a alteridade, sobre a habilidade de tentar ver o mundo pela ótica do outro. Sem isso, não é possível ter empatia genuína.
O relacionamento com um robô é totalmente egocêntrico. Acostumada com esta relação “sem riscos”, sem as demandas da amizade verdadeira, a criança pode se tornar inapta para a vida em sociedade, optando pela reclusão em seu mundo fechado. O que elas pedem dos robôs é aquilo que elas sentem falta, como carinho e atenção. Mas eles jamais podem oferecer tais coisas de forma verdadeira. Uma máquina tratada como um amigo é algo que anula qualquer sentido tradicional do conceito de amizade. A máquina sempre será indiferente a nossos sentimentos, por mais que seu desempenho nos convença do contrário.
Na segunda parte do livro, os brasileiros já poderão se identificar com muito mais facilidade. Afinal, somos recordistas nas redes sociais. Turkle argumenta que nos apresentamos como pessoas diferentes daquelas que realmente somos, normalmente uma fantasia daquilo que gostaríamos de ser. Um tipo de relacionamento incerto surge, concomitantemente ao risco de tratarmos os outros como objetos descartáveis, que existem apenas para nossa diversão temporária ou conforto. Todos querem centenas de “amigos” em seu perfil, curtindo cada passo de suas “vidas”. Tudo absolutamente superficial.
Com a incessante conectividade, as pessoas acabam ficando sozinhas como precondição para estarem juntas, pois é mais fácil se comunicar estando focado, sem interrupção, quando o local de encontro é a tela do aparelho. Seja na praça pública, na estação de trem ou no metrô, cada um mantém suas conversas partindo da premissa de que as demais pessoas são não apenas anônimas, mas ausentes. As pessoas ficam ansiosas quando não estão conectadas ou quando aguardam um próximo email ou comentário no Twitter ou Facebook. Ninguém mais suporta a solidão e a espera.
A vida nas redes sociais deixa de ser uma fuga esporádica para se transformar na melhor coisa da vida. Todo o resto pode ser ignorado ou “pausado” para responder uma nova mensagem. Muitos deixam de viver aquele momento de forma genuína, pensando apenas em postar as fotos do evento na rede, ou fazer algum comentário no Twitter. Vive-se para os outros, pelas aparências, pela quantidade de gente que vai “curtir” sua experiência, e não mais pela própria experiência em si. Alguns acabam viciados na hiperatividade em rede, na adoção de diversas tarefas simultâneas, como se isto fosse sinônimo de produtividade. Na verdade, estão se enganando, fazendo tudo de forma incompleta, pois precisam da sensação de hiperatividade.
Outro problema que costuma emergir dos novos hábitos é a superficialidade das trocas de mensagens. Como cada um recebe centenas diariamente, e criou-se o hábito de responder a quase todas, as mensagens precisam ser extremamente simples. A comunicação deve ser instantânea, o que é incompatível com problemas complexos. Além disso, esta postura encoraja o desapego às pessoas. Como temos que responder a centenas de mensagens, naturalmente despersonalizamos cada uma delas.
De forma similar, quando temos centenas de “amigos” no Facebook, acabamos tratando indivíduos como uma unidade. Amigos se tornam fãs. Eles se transformam em algo próximo de objetos. Buscamos compaixão, mas na “intimidade” online encontramos com freqüência a crueldade de estranhos. Estamos todos juntos, mas sozinhos. Uma solidão coletiva.
sexta-feira, agosto 26, 2011
Obamanonics vs. Reaganomics
By STEPHEN MOORE, WSJ
One program for recovery worked, and the other hasn't
If you really want to light the fuse of a liberal Democrat, compare Barack Obama's economic performance after 30 months in office with that of Ronald Reagan. It's not at all flattering for Mr. Obama.
The two presidents have a lot in common. Both inherited an American economy in collapse. And both applied daring, expensive remedies. Mr. Reagan passed the biggest tax cut ever, combined with an agenda of deregulation, monetary restraint and spending controls. Mr. Obama, of course, has given us a $1 trillion spending stimulus.
By the end of the summer of Reagan's third year in office, the economy was soaring. The GDP growth rate was 5% and racing toward 7%, even 8% growth. In 1983 and '84 output was growing so fast the biggest worry was that the economy would "overheat." In the summer of 2011 we have an economy limping along at barely 1% growth and by some indications headed toward a "double-dip" recession. By the end of Reagan's first term, it was Morning in America. Today there is gloomy talk of America in its twilight.
My purpose here is not more Reagan idolatry, but to point out an incontrovertible truth: One program for recovery worked, and the other hasn't.
The Reagan philosophy was to incentivize production—i.e., the "supply side" of the economy—by lowering restraints on business expansion and investment. This was done by slashing marginal income tax rates, eliminating regulatory high hurdles, and reining in inflation with a tighter monetary policy.
The Keynesians in the early 1980s assured us that the Reagan expansion would not and could not happen. Rapid growth with new jobs and falling rates of inflation (to 4% in 1983 from 13% in 1980) is an impossibility in Keynesian textbooks. If you increase demand, prices go up. If you increase supply—as Reagan did—prices go down.
The Godfather of the neo-Keynesians, Paul Samuelson, was the lead critic of the supposed follies of Reaganomics. He wrote in a 1980 Newsweek column that to slay the inflation monster would take "five to ten years of austerity," with unemployment of 8% or 9% and real output of "barely 1 or 2 percent." Reaganomics was routinely ridiculed in the media, especially in the 1982 recession. That was the year MIT economist Lester Thurow famously said, "The engines of economic growth have shut down here and across the globe, and they are likely to stay that way for years to come."
The economy would soon take flight for more than 80 consecutive months. Then the Reagan critics declared what they once thought couldn't work was actually a textbook Keynesian expansion fueled by budget deficits of $200 billion a year, or about 4%-5% of GDP.
Robert Reich, now at the University of California, Berkeley, explained that "The recession of 1981-82 was so severe that the bounce back has been vigorous." Paul Krugman wrote in 2004 that the Reagan boom was really nothing special because: "You see, rapid growth is normal when an economy is bouncing back from a deep slump."
Mr. Krugman was, for once, at least partly right. How could Reagan not look good after four years of Jimmy Carter's economic malpractice?
Fast-forward to today. Mr. Obama is running deficits of $1.3 trillion, or 8%-9% of GDP. If the Reagan deficits powered the '80s expansion, the Obama deficits—twice as large—should have the U.S. sprinting at Olympic speed.
The left has now embraced a new theory to explain why the Obama spending hasn't worked. The answer is contained in the book "This Time Is Different," by economists Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff. Published in 2009, the book examines centuries of recessions and depressions world-wide. The authors conclude that it takes nations much longer—six years or more—to recover from financial crises and the popping of asset bubbles than from typical recessions.
In any case, what Reagan inherited was arguably a more severe financial crisis than what was dropped in Mr. Obama's lap. You don't believe it? From 1967 to 1982 stocks lost two-thirds of their value relative to inflation, according to a new report from Laffer Associates. That mass liquidation of wealth was a first-rate financial calamity. And tell me that 20% mortgage interest rates, as we saw in the 1970s, aren't indicative of a monetary-policy meltdown.
There is something that is genuinely different this time. It isn't the nature of the crisis Mr. Obama inherited, but the nature of his policy prescriptions. Reagan applied tax cuts and other policies that, yes, took the deficit to unchartered peacetime highs.
But that borrowing financed a remarkable and prolonged economic expansion and a victory against the Evil Empire in the Cold War. What exactly have Mr. Obama's deficits gotten us?
Mr. Moore is a member of the Journal's editorial board.
Senhor do Universo
Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
Sexta-feira, dia de discurso de Ben Bernanke em Jackson Hole. O mundo todo aguarda ansiosamente o que o presidente do Fed irá dizer. Há cerca de um ano, foi neste mesmo evento, lá onde Judas perdeu as botas, que o barbudinho sinalizou sua segunda rodada de estímulos monetários. Os mercados vibraram eufóricos, jogando o preço dos ativos para a Lua. As bolsas dispararam, assim como as commodities. Todos ficaram felizes.
É verdade que, passado algum tempo, a espuma cedeu e quase toda a alta foi revertida. A injeção de liquidez serviu apenas para aumentar a inflação e criar uma bolha no ouro, ativo cuja oferta não depende do bel prazer de um homem. Mas isso não importa: muitos querem uma terceira rodada de liquidez, o QE3. “No longo prazo estaremos todos mortos”, ensinou Keynes. Carpe diem! É preciso fazer a roda girar. O rabo tem que balançar o cachorro.
O prêmio Nobel Paul Krugman quer até gastos contra a hipotética invasão alienígena para aquecer a economia e gerar empregos. Um terremoto talvez não seja má idéia, pois a reconstrução cria empregos. E tudo isso, claro, alimentado pelas novas notas de dólar criadas do nada pelas fantásticas impressoras do Fed. Bernanke é o homem que controla o botão da impressora. Ele é o Todo-Poderoso num mundo dominado pela mentalidade hedonista, que confunde papel-moeda com riqueza.
E assim chegamos ao ponto máximo de insanidade, em que todos abandonam suas tarefas para acompanhar a decisão de um acadêmico que jamais trabalhou na economia real. Alguns o enxergam como uma espécie de He-Man, o senhor do universo com poderes mágicos e força hercúlea para nos livrar do perigo. Já eu, em linha com meus colegas “austríacos”, vejo-o apenas como um fornecedor de drogas para viciados, que está destruindo o organismo destes de forma fatal. É este o herói do mundo moderno? Então pare o mundo que eu quero descer!
quinta-feira, agosto 25, 2011
Among the dinosaurs
France’s Socialists have yet to come to terms with the modern world
The Economist
BLISS is it in a financial crisis to be a socialist. Or so it ought to be. In speculators and ratings agencies, Europe’s left has a ready cast of villains and rogues. In simmering social discontent, it has an energising force. A recent issue of Paris-Match inadvertently captured the mood: page after full-colour page on Britain’s rioting underclass were followed by gory visual detail of the bling yachts crowding into the bay near Saint-Tropez. Time, surely, to put social inclusion before defiant decadence.
The oddity is that almost everywhere the European left is in decline. Among the large countries, Socialist parties rule only in Spain, where they look likely to lose November’s election. The only big place where the left has a good chance of returning to power is France, at next spring’s presidential election. Yet France’s Socialist Party also stands out as Europe’s most unreconstructed. Hence the contorted spectacle of a party preparing for power at a time when the markets are challenging its every orthodoxy.
For a hint of French Socialist thinking, consider recent comments from some of the candidates who will contest a primary vote in October. Ségolène Royal, who lost the 2007 presidential election to Nicolas Sarkozy, argued this week that stock options and speculation on sovereign debt should be banned. Denouncing “anarchic globalisation”, she called for human values to be imposed on financial ones, as a means of “carrying on the torch of a great country, France, which gave the world revolutionary principles about the emancipation of the people.”
Ms Royal, believe it or not, is considered a moderate. To her left, Arnaud Montebourg, a younger, outwardly sensible sort, argues for “deglobalisation”. He wants to forbid banks from “speculating with clients’ deposits”, and to abolish ratings agencies. Financial markets want “to turn us into their poodle”, he lamented at a weekend fete in a bucolic village, celebrating the joys of la France profonde with copious bottles of burgundy. No one seems to have told him that there is a simple way to avoid the wrath of bond markets: balance your books and don’t borrow.
Next to such patent nonsense, promises by the two front-running candidates, Martine Aubry and François Hollande, seem merely frozen in time, circa 1981. They want to return to retirement at the age of 60 (it has just been raised to 62), and to invent 300,000 public-sector youth jobs. Each supports Mr Sarkozy’s deficit-reduction targets, but refuses to approve his plan to write a deficit rule into the constitution. More taxes, not less spending, is their underlying creed.
The party is not out of tune with public opinion. The French are almost uniquely hostile to the capitalist system that has made them one of the world’s richest people. Fully 57% say France should single-handedly erect higher customs barriers. The same share judge that freer trade with India and China, whose consumers snap up French silk scarves and finely stitched leather handbags, has been “bad” for France. The right has held the presidency since 1995 partly by pandering to such sentiments.
The causes of French left-wingery are various, but a potent one is the lingering hold of Marxist thinking. Post-war politics on the left was for decades dominated by the Communist Party, which regularly scooped up a quarter of the votes. In the 1950s many intellectuals, including Jean-Paul Sartre, clung to pro-Soviet idealism even after the evils of Stalinism emerged. Others toyed with Trotskyism well into the 1970s. François Mitterrand, who mentored Ms Royal, Ms Aubry and Mr Hollande, was swept to the presidency in 1981 by offering a socialist Utopia as a third way between “the capitalist society which enslaves people” and the “communist society which stifles them”.
Given such a tradition, it is possible that today’s Socialist leaders believe what they say. At any rate, there is a debate to be had about the right amount of market regulation and fiscal consolidation. Yet the problem with their promises is this: for every bit of conviction, there is a shameful share of pure posturing.
In truth, France’s Socialists have often had to be pragmatic in power. As prime minister between 1997 and 2002 Lionel Jospin, himself an ex-Trotskyist, privatised more assets than any of his right-wing predecessors. Even Mitterrand was forced to abandon nationalisation and embrace austerity. Should the Socialists win in 2012, it would take them “about a month, or maybe a week” to confess that they “have no choice but to keep the deficit under control”, says one well-placed party figure. Retirement at 60? Nice idea but, quel dommage, we can’t afford it.
Please allow us a moment of madness
All this requires heroic faith among centrists considering voting Socialist that reason will triumph over fiscal folly. Moreover, experience suggests that the Socialists, if elected, may feel compelled to introduce some signature policy as a sop to their disappointed base. Under Mitterrand, it was the wealth tax. Under Mr Jospin, it was Ms Aubry’s 35-hour working week. With France’s recovery fragile, the prospect of more such lunacy is chilling.
A further danger touches Europe, where France traditionally generates many ideas for integration. At a time when leaders are inching towards more economic co-ordination, with oversight of budgets and even tax harmonisation, a Socialist victory would put the shaping of such a project into uncertain hands.
With Dominique Strauss-Kahn out of the running there is just one French Socialist primary candidate who understands all this. Manuel Valls, a deputy and mayor with a refreshingly modern view of the left, says Socialists are not being straight by promising retirement at 60. He dares utter such truths as “we need to tell the French that the [budgetary] effort…will be as great as that achieved after Liberation”. Alas, the 49-year-old Mr Valls is considered too young to be a serious contender. The day the paleo-Socialists of the Mitterrand generation allow such figures to emerge would be the dawn of a real revolution.
What Austerity?
Editorial do WSJ
Federal spending will hit a new record this year
With the recovery sputtering, the White House and its allies have been blaming government spending cuts, or what the neo-Keynesians call "fiscal contraction." This is a dubious economic theory even if spending were being cut, but yesterday's mid-year report from the Congressional Budget Office shows definitively that there's been nothing close to contraction in Washington.
That's the real news in the CBO numbers, which show that spending in fiscal 2011 (which ends on September 30) will hit a new high of $3.6 trillion, up $141 billion from 2010. That's higher than the previous record in 2009 of $3.5 trillion, which was supposed to be the peak of the "temporary" stimulus spending.
As the nearby chart shows, that is also nearly $900 billion more spending than in 2007. Total federal outlays will have increased by roughly one third in a mere four years. This hasn't happened since the Great Inflation of the late 1970s.
Give President Obama and the two Pelosi Congresses credit for this much: They said they would spend our way out of recession, and they sure gave it the old Beltway try. The problem is that we got the spending without the promised economic growth.
This is the real cause of our current deficit and debt woes. As a share of the economy, spending will once again come in at nearly 23.8%, up from 20.7% as recently as 2008. Defense spending is expected to increase by only $14 billion to $703 billion in 2011, despite the surge in Afghanistan. The bigger increases are in Medicare, Medicaid, and the usual panoply of entitlements and other payments to individuals.
All of this means the deficit will roll in at nearly $1.3 trillion, or 8.5% of GDP this year. That's down a mere $10 billion from fiscal 2010, and we suppose taxpayers should be grateful for small fiscal favors.
The reason for this small deficit dip is that total tax revenues will climb in fiscal 2011 by about $150 billion. Individual income tax receipts will increase this year by about 21%, or $190 billion, though tax rates have stayed the same. Even with this good news, revenues will still come in at only 15.3% of GDP, which is far below the modern historical average of more than 18%.
Revenues would have been about $115 billion higher without the temporary payroll tax cut pressed by President Obama. But that tax cut hasn't provided any economic lift, and overall growth simply isn't fast enough to get revenues back to normal. Merely returning to an average economic expansion would reduce the deficit by 3% of GDP a year, or hundreds of billions of dollars.
Looking forward, CBO forecasts a sunnier fiscal picture, but it is based on assumptions that will never come true. The deficit is projected to fall to $973 billion in fiscal 2012, then fall again to $510 billion in 2013, and to a mere $265 billion in 2014.
But this assumes that federal spending will grow by only $12 billion in 2012, a level of spending control that even Ronald Reagan never achieved. President Obama wants much more spending next year and so does the Senate. Oh, and Medicare payments to doctors will fall by nearly 30% starting in 2012. Congress has been promising this cut in payments since 1997, but it never happens and would hurt medical care if it did.
The rest of CBO's fantasy forecast comes from what it says will be "the sharp increases in revenues that will occur when provisions of [the Bush era tax cuts extended last year] expire." So CBO estimates that federal taxes as a share of GDP will leap to 19% in 2013 and 20.2% in 2014 from 15.3% today. And we are supposed to believe that economic growth will soar to 4.4% and 5% in 2014 and 2015 after huge tax increases on capital gains, dividends, small businesses and workers in 2013. Beam us up, Scotty.
With these optimistic assumptions, CBO is able to forecast that federal debt held by the public will rise only to a peak of 73% in 2013 before falling to 67% in 2016. We think economist David Malpass is closer to the truth when he predicts a debt to GDP ratio closer to 85% in 2016 and 100% in 2021 without significant reform.
The real story told by the CBO report is that the federal government is still pursuing a very loose fiscal policy, despite lamentations from Democrats and the Keynesian economists who populate Wall Street. The best that House Republicans have been able to do so far is to battle Mr. Obama and Senate Democrats to a draw, delaying tax increases until 2013 and preventing even larger spending increases. To really control Washington's appetites, the voters are going to have to back up their message in 2010 with reinforcements in 2012.
Federal spending will hit a new record this year
With the recovery sputtering, the White House and its allies have been blaming government spending cuts, or what the neo-Keynesians call "fiscal contraction." This is a dubious economic theory even if spending were being cut, but yesterday's mid-year report from the Congressional Budget Office shows definitively that there's been nothing close to contraction in Washington.
That's the real news in the CBO numbers, which show that spending in fiscal 2011 (which ends on September 30) will hit a new high of $3.6 trillion, up $141 billion from 2010. That's higher than the previous record in 2009 of $3.5 trillion, which was supposed to be the peak of the "temporary" stimulus spending.
As the nearby chart shows, that is also nearly $900 billion more spending than in 2007. Total federal outlays will have increased by roughly one third in a mere four years. This hasn't happened since the Great Inflation of the late 1970s.
Give President Obama and the two Pelosi Congresses credit for this much: They said they would spend our way out of recession, and they sure gave it the old Beltway try. The problem is that we got the spending without the promised economic growth.
This is the real cause of our current deficit and debt woes. As a share of the economy, spending will once again come in at nearly 23.8%, up from 20.7% as recently as 2008. Defense spending is expected to increase by only $14 billion to $703 billion in 2011, despite the surge in Afghanistan. The bigger increases are in Medicare, Medicaid, and the usual panoply of entitlements and other payments to individuals.
All of this means the deficit will roll in at nearly $1.3 trillion, or 8.5% of GDP this year. That's down a mere $10 billion from fiscal 2010, and we suppose taxpayers should be grateful for small fiscal favors.
The reason for this small deficit dip is that total tax revenues will climb in fiscal 2011 by about $150 billion. Individual income tax receipts will increase this year by about 21%, or $190 billion, though tax rates have stayed the same. Even with this good news, revenues will still come in at only 15.3% of GDP, which is far below the modern historical average of more than 18%.
Revenues would have been about $115 billion higher without the temporary payroll tax cut pressed by President Obama. But that tax cut hasn't provided any economic lift, and overall growth simply isn't fast enough to get revenues back to normal. Merely returning to an average economic expansion would reduce the deficit by 3% of GDP a year, or hundreds of billions of dollars.
Looking forward, CBO forecasts a sunnier fiscal picture, but it is based on assumptions that will never come true. The deficit is projected to fall to $973 billion in fiscal 2012, then fall again to $510 billion in 2013, and to a mere $265 billion in 2014.
But this assumes that federal spending will grow by only $12 billion in 2012, a level of spending control that even Ronald Reagan never achieved. President Obama wants much more spending next year and so does the Senate. Oh, and Medicare payments to doctors will fall by nearly 30% starting in 2012. Congress has been promising this cut in payments since 1997, but it never happens and would hurt medical care if it did.
The rest of CBO's fantasy forecast comes from what it says will be "the sharp increases in revenues that will occur when provisions of [the Bush era tax cuts extended last year] expire." So CBO estimates that federal taxes as a share of GDP will leap to 19% in 2013 and 20.2% in 2014 from 15.3% today. And we are supposed to believe that economic growth will soar to 4.4% and 5% in 2014 and 2015 after huge tax increases on capital gains, dividends, small businesses and workers in 2013. Beam us up, Scotty.
With these optimistic assumptions, CBO is able to forecast that federal debt held by the public will rise only to a peak of 73% in 2013 before falling to 67% in 2016. We think economist David Malpass is closer to the truth when he predicts a debt to GDP ratio closer to 85% in 2016 and 100% in 2021 without significant reform.
The real story told by the CBO report is that the federal government is still pursuing a very loose fiscal policy, despite lamentations from Democrats and the Keynesian economists who populate Wall Street. The best that House Republicans have been able to do so far is to battle Mr. Obama and Senate Democrats to a draw, delaying tax increases until 2013 and preventing even larger spending increases. To really control Washington's appetites, the voters are going to have to back up their message in 2010 with reinforcements in 2012.
Amy Winehouse, Tio Patinhas e o senhor Mercado
Rodrigo Constantino, VALOR ECONÔMICO
Prezado leitor, não pense que perdi o juízo por conta da volatilidade dos mercados. Peço um pouco de paciência para tentar explicar a conexão entre os personagens do título.
À primeira vista, pode parecer confuso misturar uma cantora recentemente falecida, um pato de desenho animado e uma abstração dos principais agentes que atuam no mercado financeiro. Mas juro que há uma lógica na comparação.
Comecemos por Winehouse. Como o nome ironicamente já diz, ela curtia elevadas doses de álcool e outras drogas mais. No começo, seus vexames eram compensados pelo excelente desempenho nos palcos. Com o passar do tempo, o vício foi aumentando até o ponto de impedi-la de cantar. Confrontada com essa realidade, Amy não só rejeitou um tratamento mais intensivo, como chegou a escrever uma música enaltecendo sua decisão. Reabilitação? Não, não e não! Ela quis o vício. Acabou morta.
Passemos agora ao pato avarento da Disney. Todos conhecem a ambição desmedida do Tio Patinhas pelo acúmulo de moedas de ouro. O que nem todos sabem é que ela expressa certa desconfiança em relação à moeda fiduciária. Em um dos episódios, os sobrinhos de Tio Patinhas descobrem uma máquina que faz replicar qualquer coisa. Claro que os três pestinhas logo pensam em multiplicar o dinheiro.
Tio Patinhas só descobre a façanha quando os sobrinhos já gastaram uma fortuna. Ele dá então uma verdadeira aula de economia básica. Explica que não é certo aumentar dinheiro dessa forma, sem lastro, pois o único efeito será mais inflação. Os outros, sem acesso a essa máquina maravilhosa, terão que arcar com os custos do enriquecimento artificial deles. Em suma, aquilo era pura fraude!
E aqui chegamos ao Sr. Mercado. Como já sabia Benjamin Graham, o Sr. Mercado não passa de um bipolar com foco totalmente voltado ao curto prazo. A palavra "estímulo" é capaz de fazer o Sr. Mercado entrar numa fase de euforia totalmente irracional. Já o risco de uma recessão, ainda que temporária para limpar excessos do organismo, joga o Sr. Mercado em profunda depressão. Parece que o mundo vai acabar.
Chegamos ao ponto de encontro dos três personagens: Jackson Hole. Há um ano, foi neste aguardado evento, repleto de figurões do mercado financeiro e autoridades políticas, que a nova fase de euforia do Sr. Mercado teve início. Bernanke sinalizava sua segunda rodada de estímulos, o QE2. As bolsas dispararam, assim como as commodities. O salvador dos mercados entrava em jogo uma vez mais, com nova rodada de liquidez.
A analogia com o álcool não é nova. Benjamin Strong costumava dizer que daria mais uma dose de uísque para animar o mercado. E como ele gosta do malte! Para um bêbado, nada melhor no curto prazo do que mais uma rodada grátis. O problema é depois, quando a ressaca aumenta. A dose necessária para manter a euforia artificial é cada vez maior. Até o dia em que o organismo não aguenta mais.
Os investidores estão divididos quanto ao comunicado de Bernanke amanhã. Muitos acham que não há mais espaço para um QE3. A inflação não é mais tão baixa quanto era ano passado, e os estímulos também são reféns da lei dos retornos decrescentes. Um QE3 do mesmo montante do QE2 sem dúvida produziria efeito menor, lembrando que a alta do S&P 500 no período foi quase toda eliminada e a economia ameaça entrar em recessão novamente.
Os estímulos fizeram apenas com que centenas de bilhões de dólares ficassem empossados no próprio Fed, sem gerar resultado positivo no crescimento econômico. Tanta injeção de liquidez pariu novas bolhas, desta vez nos títulos do Tesouro americano e no ouro. Tio Patinhas, afinal, estava certo. A "relíquia bárbara", como Keynes gostava de chamar o metal, chegou a quase US$ 1.900, uma alta expressiva no ano.
Enquanto o Fed vai brincando de usar a máquina mágica de multiplicar dinheiro, os investidores de longo prazo ficam com medo e correm para o ouro, cuja oferta não pode ser manipulada. Por isso, acredito que seria absurdamente irresponsável o anúncio de um QE3 na sexta. Claro que, de Bernanke, podemos esperar qualquer coisa. Mas penso que algum lapso de bom senso ele terá desta vez. Provavelmente, ele irá apenas deixar a porta aberta, alegando que ainda tem munição se for preciso.
Fora isso, o Fed já declarou que as taxas de juros ficarão inalteradas até meados de 2013. Não acho que existem muitos outros coelhos na cartola. Se o Sr. Mercado está animado apenas com base na possibilidade de nova rodada de uísque, é melhor se preparar para um pequeno choque de abstinência. Melhor assim. Lembremos de Amy Winehouse.
Rodrigo Constantino é sócio da Graphus Capital
Prezado leitor, não pense que perdi o juízo por conta da volatilidade dos mercados. Peço um pouco de paciência para tentar explicar a conexão entre os personagens do título.
À primeira vista, pode parecer confuso misturar uma cantora recentemente falecida, um pato de desenho animado e uma abstração dos principais agentes que atuam no mercado financeiro. Mas juro que há uma lógica na comparação.
Comecemos por Winehouse. Como o nome ironicamente já diz, ela curtia elevadas doses de álcool e outras drogas mais. No começo, seus vexames eram compensados pelo excelente desempenho nos palcos. Com o passar do tempo, o vício foi aumentando até o ponto de impedi-la de cantar. Confrontada com essa realidade, Amy não só rejeitou um tratamento mais intensivo, como chegou a escrever uma música enaltecendo sua decisão. Reabilitação? Não, não e não! Ela quis o vício. Acabou morta.
Passemos agora ao pato avarento da Disney. Todos conhecem a ambição desmedida do Tio Patinhas pelo acúmulo de moedas de ouro. O que nem todos sabem é que ela expressa certa desconfiança em relação à moeda fiduciária. Em um dos episódios, os sobrinhos de Tio Patinhas descobrem uma máquina que faz replicar qualquer coisa. Claro que os três pestinhas logo pensam em multiplicar o dinheiro.
Tio Patinhas só descobre a façanha quando os sobrinhos já gastaram uma fortuna. Ele dá então uma verdadeira aula de economia básica. Explica que não é certo aumentar dinheiro dessa forma, sem lastro, pois o único efeito será mais inflação. Os outros, sem acesso a essa máquina maravilhosa, terão que arcar com os custos do enriquecimento artificial deles. Em suma, aquilo era pura fraude!
E aqui chegamos ao Sr. Mercado. Como já sabia Benjamin Graham, o Sr. Mercado não passa de um bipolar com foco totalmente voltado ao curto prazo. A palavra "estímulo" é capaz de fazer o Sr. Mercado entrar numa fase de euforia totalmente irracional. Já o risco de uma recessão, ainda que temporária para limpar excessos do organismo, joga o Sr. Mercado em profunda depressão. Parece que o mundo vai acabar.
Chegamos ao ponto de encontro dos três personagens: Jackson Hole. Há um ano, foi neste aguardado evento, repleto de figurões do mercado financeiro e autoridades políticas, que a nova fase de euforia do Sr. Mercado teve início. Bernanke sinalizava sua segunda rodada de estímulos, o QE2. As bolsas dispararam, assim como as commodities. O salvador dos mercados entrava em jogo uma vez mais, com nova rodada de liquidez.
A analogia com o álcool não é nova. Benjamin Strong costumava dizer que daria mais uma dose de uísque para animar o mercado. E como ele gosta do malte! Para um bêbado, nada melhor no curto prazo do que mais uma rodada grátis. O problema é depois, quando a ressaca aumenta. A dose necessária para manter a euforia artificial é cada vez maior. Até o dia em que o organismo não aguenta mais.
Os investidores estão divididos quanto ao comunicado de Bernanke amanhã. Muitos acham que não há mais espaço para um QE3. A inflação não é mais tão baixa quanto era ano passado, e os estímulos também são reféns da lei dos retornos decrescentes. Um QE3 do mesmo montante do QE2 sem dúvida produziria efeito menor, lembrando que a alta do S&P 500 no período foi quase toda eliminada e a economia ameaça entrar em recessão novamente.
Os estímulos fizeram apenas com que centenas de bilhões de dólares ficassem empossados no próprio Fed, sem gerar resultado positivo no crescimento econômico. Tanta injeção de liquidez pariu novas bolhas, desta vez nos títulos do Tesouro americano e no ouro. Tio Patinhas, afinal, estava certo. A "relíquia bárbara", como Keynes gostava de chamar o metal, chegou a quase US$ 1.900, uma alta expressiva no ano.
Enquanto o Fed vai brincando de usar a máquina mágica de multiplicar dinheiro, os investidores de longo prazo ficam com medo e correm para o ouro, cuja oferta não pode ser manipulada. Por isso, acredito que seria absurdamente irresponsável o anúncio de um QE3 na sexta. Claro que, de Bernanke, podemos esperar qualquer coisa. Mas penso que algum lapso de bom senso ele terá desta vez. Provavelmente, ele irá apenas deixar a porta aberta, alegando que ainda tem munição se for preciso.
Fora isso, o Fed já declarou que as taxas de juros ficarão inalteradas até meados de 2013. Não acho que existem muitos outros coelhos na cartola. Se o Sr. Mercado está animado apenas com base na possibilidade de nova rodada de uísque, é melhor se preparar para um pequeno choque de abstinência. Melhor assim. Lembremos de Amy Winehouse.
Rodrigo Constantino é sócio da Graphus Capital
quarta-feira, agosto 24, 2011
'Euro Bonds Would Destroy the Euro'
Interessante debate no Spiegel Online sobre a crise do euro. Nem preciso dizer qual partido eu tomo. Seguem alguns trechos de Hans-Werner Sinn:
"Euro bonds would destroy the euro zone. If all countries -- regardless of their creditworthiness -- were to pay the same interest rate, the last impediments to excessive state indebtedness would fall away."
"The very fact that we have a common currency today is why we need interest-rate differentials in order to keep capital flows in check. Every government has it in its power to bring its public finances into order and, in doing so, to convince its creditors that the money will also be paid back. There is absolutely no reason to communitize debts via euro bonds. Euro bonds are like a little piece of socialism. They don't belong in our economic system."
"Heavily indebted countries need to finally face reality. They can no longer maintain the artificial boom they've been financing with other people's money."
"You view euro bonds as a tool for restructuring. I say that euro bonds would destroy the euro. They would only encourage profligacy. The countries on the periphery would go on living above their means. I'm in favor of keeping the euro."
"The euro is needed for business and trade. If we don't want to damage it even further, we have to put an end to all this debt creation."
"Taken together, Greece, Ireland, Portugal, Spain and Italy have €3.1 trillion in state debt. That's twice as much as German reunification cost. Do you seriously want our children to be liable for those debts?"
"With euro bonds, you are creating a danger of contagion via public finances. It's a basic principle of the market economy that one is liable for the decisions that one takes. In the mid-1970s, New York was forced to put its tax revenues up as security because no one lent a hand."
" I propose that we help the crisis-stricken countries step by step, to a limited degree and only when their creditors are willing to relinquish a portion of their claims. At a fundamental level, the countries have to learn to live without our loans. The German taxpayer cannot ensure the living standard of people in these countries over the long term."
"Previous decisions have already made Germany liable for almost €400 billion. And now there is also the issue of an additional €3.1 trillion that we are supposed to be joint and severally liable for. At some point, even Germany's power is exhausted. It's about the survival of our political system. You shouldn't forget that."
"Euro bonds would destroy the euro zone. If all countries -- regardless of their creditworthiness -- were to pay the same interest rate, the last impediments to excessive state indebtedness would fall away."
"The very fact that we have a common currency today is why we need interest-rate differentials in order to keep capital flows in check. Every government has it in its power to bring its public finances into order and, in doing so, to convince its creditors that the money will also be paid back. There is absolutely no reason to communitize debts via euro bonds. Euro bonds are like a little piece of socialism. They don't belong in our economic system."
"Heavily indebted countries need to finally face reality. They can no longer maintain the artificial boom they've been financing with other people's money."
"You view euro bonds as a tool for restructuring. I say that euro bonds would destroy the euro. They would only encourage profligacy. The countries on the periphery would go on living above their means. I'm in favor of keeping the euro."
"The euro is needed for business and trade. If we don't want to damage it even further, we have to put an end to all this debt creation."
"Taken together, Greece, Ireland, Portugal, Spain and Italy have €3.1 trillion in state debt. That's twice as much as German reunification cost. Do you seriously want our children to be liable for those debts?"
"With euro bonds, you are creating a danger of contagion via public finances. It's a basic principle of the market economy that one is liable for the decisions that one takes. In the mid-1970s, New York was forced to put its tax revenues up as security because no one lent a hand."
" I propose that we help the crisis-stricken countries step by step, to a limited degree and only when their creditors are willing to relinquish a portion of their claims. At a fundamental level, the countries have to learn to live without our loans. The German taxpayer cannot ensure the living standard of people in these countries over the long term."
"Previous decisions have already made Germany liable for almost €400 billion. And now there is also the issue of an additional €3.1 trillion that we are supposed to be joint and severally liable for. At some point, even Germany's power is exhausted. It's about the survival of our political system. You shouldn't forget that."
Keynesian Economics vs. Regular Economics
By ROBERT J. BARRO, WSJ
Keynesian economics—the go-to theory for those who like government at the controls of the economy—is in the forefront of the ongoing debate on fiscal-stimulus packages. For example, in true Keynesian spirit, Agriculture Secretary Tom Vilsack said recently that food stamps were an "economic stimulus" and that "every dollar of benefits generates $1.84 in the economy in terms of economic activity." Many observers may see how this idea—that one can magically get back more than one puts in—conflicts with what I will call "regular economics." What few know is that there is no meaningful theoretical or empirical support for the Keynesian position.
The overall prediction from regular economics is that an expansion of transfers, such as food stamps, decreases employment and, hence, gross domestic product (GDP). In regular economics, the central ideas involve incentives as the drivers of economic activity. Additional transfers to people with earnings below designated levels motivate less work effort by reducing the reward from working.
In addition, the financing of a transfer program requires more taxes—today or in the future in the case of deficit financing. These added levies likely further reduce work effort—in this instance by taxpayers expected to finance the transfer—and also lower investment because the return after taxes is diminished.
This result does not mean that food stamps and other transfers are necessarily bad ideas in the world of regular economics. But there is an acknowledged trade-off: Greater provision of social insurance and redistribution of income reduces the overall GDP pie.
Yet Keynesian economics argues that incentives and other forces in regular economics are overwhelmed, at least in recessions, by effects involving "aggregate demand." Recipients of food stamps use their transfers to consume more. Compared to this urge, the negative effects on consumption and investment by taxpayers are viewed as weaker in magnitude, particularly when the transfers are deficit-financed.
Thus, the aggregate demand for goods rises, and businesses respond by selling more goods and then by raising production and employment. The additional wage and profit income leads to further expansions of demand and, hence, to more production and employment. As per Mr. Vilsack, the administration believes that the cumulative effect is a multiplier around two.
If valid, this result would be truly miraculous. The recipients of food stamps get, say, $1 billion but they are not the only ones who benefit. Another $1 billion appears that can make the rest of society better off. Unlike the trade-off in regular economics, that extra $1 billion is the ultimate free lunch.
How can it be right? Where was the market failure that allowed the government to improve things just by borrowing money and giving it to people? Keynes, in his "General Theory" (1936), was not so good at explaining why this worked, and subsequent generations of Keynesian economists (including my own youthful efforts) have not been more successful.
Theorizing aside, Keynesian policy conclusions, such as the wisdom of additional stimulus geared to money transfers, should come down to empirical evidence. And there is zero evidence that deficit-financed transfers raise GDP and employment—not to mention evidence for a multiplier of two.
Gathering evidence is challenging. In the data, transfers are higher than normal during recessions but mainly because of the automatic increases in welfare programs, such as food stamps and unemployment benefits. To figure out the economic effects of transfers one needs "experiments" in which the government changes transfers in an unusual way—while other factors stay the same—but these events are rare.
Ironically, the administration created one informative data point by dramatically raising unemployment insurance eligibility to 99 weeks in 2009—a much bigger expansion than in previous recessions. Interestingly, the fraction of the unemployed who are long term (more than 26 weeks) has jumped since 2009—to over 44% today, whereas the previous peak had been only 26% during the 1982-83 recession. This pattern suggests that the dramatically longer unemployment-insurance eligibility period adversely affected the labor market. All we need now to get reliable estimates are a hundred more of these experiments.
The administration found the evidence it wanted—multipliers around two—by consulting some large-scale macro-econometric models, which substitute assumptions for identification. These models were undoubtedly the source of Mr. Vilsack's claim that a dollar more of food stamps led to an extra $1.84 of GDP. This multiplier is nonsense, but one has to admire the precision in the number.
There are two ways to view Keynesian stimulus through transfer programs. It's either a divine miracle—where one gets back more than one puts in—or else it's the macroeconomic equivalent of bloodletting. Obviously, I lean toward the latter position, but I am still hoping for more empirical evidence.
Mr. Barro is an economics professor at Harvard and a senior fellow at Stanford's Hoover Institution.
Keynesian economics—the go-to theory for those who like government at the controls of the economy—is in the forefront of the ongoing debate on fiscal-stimulus packages. For example, in true Keynesian spirit, Agriculture Secretary Tom Vilsack said recently that food stamps were an "economic stimulus" and that "every dollar of benefits generates $1.84 in the economy in terms of economic activity." Many observers may see how this idea—that one can magically get back more than one puts in—conflicts with what I will call "regular economics." What few know is that there is no meaningful theoretical or empirical support for the Keynesian position.
The overall prediction from regular economics is that an expansion of transfers, such as food stamps, decreases employment and, hence, gross domestic product (GDP). In regular economics, the central ideas involve incentives as the drivers of economic activity. Additional transfers to people with earnings below designated levels motivate less work effort by reducing the reward from working.
In addition, the financing of a transfer program requires more taxes—today or in the future in the case of deficit financing. These added levies likely further reduce work effort—in this instance by taxpayers expected to finance the transfer—and also lower investment because the return after taxes is diminished.
This result does not mean that food stamps and other transfers are necessarily bad ideas in the world of regular economics. But there is an acknowledged trade-off: Greater provision of social insurance and redistribution of income reduces the overall GDP pie.
Yet Keynesian economics argues that incentives and other forces in regular economics are overwhelmed, at least in recessions, by effects involving "aggregate demand." Recipients of food stamps use their transfers to consume more. Compared to this urge, the negative effects on consumption and investment by taxpayers are viewed as weaker in magnitude, particularly when the transfers are deficit-financed.
Thus, the aggregate demand for goods rises, and businesses respond by selling more goods and then by raising production and employment. The additional wage and profit income leads to further expansions of demand and, hence, to more production and employment. As per Mr. Vilsack, the administration believes that the cumulative effect is a multiplier around two.
If valid, this result would be truly miraculous. The recipients of food stamps get, say, $1 billion but they are not the only ones who benefit. Another $1 billion appears that can make the rest of society better off. Unlike the trade-off in regular economics, that extra $1 billion is the ultimate free lunch.
How can it be right? Where was the market failure that allowed the government to improve things just by borrowing money and giving it to people? Keynes, in his "General Theory" (1936), was not so good at explaining why this worked, and subsequent generations of Keynesian economists (including my own youthful efforts) have not been more successful.
Theorizing aside, Keynesian policy conclusions, such as the wisdom of additional stimulus geared to money transfers, should come down to empirical evidence. And there is zero evidence that deficit-financed transfers raise GDP and employment—not to mention evidence for a multiplier of two.
Gathering evidence is challenging. In the data, transfers are higher than normal during recessions but mainly because of the automatic increases in welfare programs, such as food stamps and unemployment benefits. To figure out the economic effects of transfers one needs "experiments" in which the government changes transfers in an unusual way—while other factors stay the same—but these events are rare.
Ironically, the administration created one informative data point by dramatically raising unemployment insurance eligibility to 99 weeks in 2009—a much bigger expansion than in previous recessions. Interestingly, the fraction of the unemployed who are long term (more than 26 weeks) has jumped since 2009—to over 44% today, whereas the previous peak had been only 26% during the 1982-83 recession. This pattern suggests that the dramatically longer unemployment-insurance eligibility period adversely affected the labor market. All we need now to get reliable estimates are a hundred more of these experiments.
The administration found the evidence it wanted—multipliers around two—by consulting some large-scale macro-econometric models, which substitute assumptions for identification. These models were undoubtedly the source of Mr. Vilsack's claim that a dollar more of food stamps led to an extra $1.84 of GDP. This multiplier is nonsense, but one has to admire the precision in the number.
There are two ways to view Keynesian stimulus through transfer programs. It's either a divine miracle—where one gets back more than one puts in—or else it's the macroeconomic equivalent of bloodletting. Obviously, I lean toward the latter position, but I am still hoping for more empirical evidence.
Mr. Barro is an economics professor at Harvard and a senior fellow at Stanford's Hoover Institution.
terça-feira, agosto 23, 2011
Agonizante social-democracia
Rodrigo Constantino, O GLOBO
A crise financeira voltou a assombrar o mundo. Assim como em 2008, a busca por bodes expiatórios é automática. Os especuladores são o alvo preferido nessas horas. Mas poucos têm focado no cerne da questão. O que está em jogo é a própria sobrevivência de um modelo de sociedade: a social-democracia.
O sonho “igualitário” conquista corações há séculos. O socialismo foi seu grande experimento no século 20. Deixou um rastro de miséria, terror e escravidão por onde passou. Seus “órfãos” encontraram refúgio na social-democracia europeia, uma espécie de “socialismo light”. Todos teriam “direito” a uma vida digna, garantida pelo Estado.
Buscando se perpetuar no poder, os políticos faziam leilões de promessas irrealistas. Aquele que oferecesse mais benesses ao maior número de pessoas seria eleito. As “conquistas” trabalhistas foram se amontoando, concomitantemente à perda de competitividade das economias. Todos passaram a esperar tudo do governo, de mão-beijada.
Se os produtos importados são mais baratos, o governo cria barreiras protecionistas. Se a produção agrícola é ineficiente, o governo oferece subsídios. Se a empresa falir, o governo a salva. Se a produtividade é baixa, o governo aumenta o salário por decreto. Se trabalhar duro é “desumano”, o governo limita a quantidade permitida de horas trabalhadas.
A economia fica menos competitiva. O governo ataca os sintomas. Se o empregado é demitido, ele pode viver à custa do governo por vários anos. Ele conta com ampla rede de proteção, tudo “grátis”. O mecanismo de incentivos é perverso, desestimulando a produção e alimentando o parasitismo. Ser funcionário público, com mais privilégios ainda, torna-se a meta de muitos.
Para agravar o quadro, o governo criou um verdadeiro esquema piramidal de Previdência Social. As pessoas se aposentam cedo, mesmo vivendo mais. E a aposentadoria guarda pouca relação com o que foi efetivamente poupado durante os anos trabalhados. Trata-se de um esquema Ponzi de transferência de recursos.
Esta ilha da fantasia pode ser mantida enquanto houver demografia favorável. Mas, inevitavelmente, a conta terá de ser paga. O inverno um dia chega para as cigarras. Com o envelhecimento da população, o sistema implode.
A entrada da China na globalização foi responsável por um dos maiores choques de produtividade da história. São milhões de formigas dispostas a produzir tudo mais barato. Os bancos centrais, cúmplices dos governos deficitários, puderam manter estímulos artificiais sem grandes impactos na inflação. O mundo todo crescia. Era a “Grande Moderação”. As cigarras estavam felizes.
Mas o inverno chegou. A bolha de crédito explodiu, sendo absorvida por governos já demasiadamente endividados. O déficit fiscal saiu de controle, e a dívida pública passou de 100% do PIB em alguns casos. Com carga tributária já na casa dos 50% do PIB, os governos ficaram sem margem de manobra. Resta cortar drasticamente os gastos públicos, desmontando o Estado social.
Claro que este encontro com a dura realidade incomoda muita gente. Inúmeras pessoas se acostumaram com a “dolce vita” das cigarras. A tensão social cresce visivelmente nas ruas. A alternativa tentadora é imprimir moeda. Mas a Europa não conta com a mesma flexibilidade dos EUA, e a Alemanha representa um obstáculo à “solução” inflacionária. Ela já viu o diabo da hiperinflação de perto e sabe como ele é feio.
Não há saída fácil para esta sinuca de bico. A crise é fruto de décadas de gastos públicos crescentes, gradual perda de competitividade econômica e envelhecimento populacional. O euro, uma criação política, fez os países mais irresponsáveis ganharem tempo. Mas chegou a hora da verdade.
O modelo de bem-estar social europeu está em xeque, ainda que Obama queira seguir no mesmo caminho. Por isso o Tea Party gera tanta revolta. Os social-democratas gostariam de crer que é possível viver eternamente no conto de fadas. Estão apavorados com a idéia de que finalmente a fatura dos anos de farra irresponsável chegou. Com juros.
“No longo prazo estaremos todos mortos”, disse um dos ícones desta mentalidade hedonista. Mas o longo prazo chegou. E se Keynes já morreu, muitos ainda estão vivos. É a social-democracia keynesiana que corre risco de vida.
E o Brasil? Seguimos aqui o mesmo modelo falido. Enquanto a China e a demografia ajudarem, a farra poderá continuar. Mas um dia a fatura chegará para os brasileiros também. Podem anotar.
A crise financeira voltou a assombrar o mundo. Assim como em 2008, a busca por bodes expiatórios é automática. Os especuladores são o alvo preferido nessas horas. Mas poucos têm focado no cerne da questão. O que está em jogo é a própria sobrevivência de um modelo de sociedade: a social-democracia.
O sonho “igualitário” conquista corações há séculos. O socialismo foi seu grande experimento no século 20. Deixou um rastro de miséria, terror e escravidão por onde passou. Seus “órfãos” encontraram refúgio na social-democracia europeia, uma espécie de “socialismo light”. Todos teriam “direito” a uma vida digna, garantida pelo Estado.
Buscando se perpetuar no poder, os políticos faziam leilões de promessas irrealistas. Aquele que oferecesse mais benesses ao maior número de pessoas seria eleito. As “conquistas” trabalhistas foram se amontoando, concomitantemente à perda de competitividade das economias. Todos passaram a esperar tudo do governo, de mão-beijada.
Se os produtos importados são mais baratos, o governo cria barreiras protecionistas. Se a produção agrícola é ineficiente, o governo oferece subsídios. Se a empresa falir, o governo a salva. Se a produtividade é baixa, o governo aumenta o salário por decreto. Se trabalhar duro é “desumano”, o governo limita a quantidade permitida de horas trabalhadas.
A economia fica menos competitiva. O governo ataca os sintomas. Se o empregado é demitido, ele pode viver à custa do governo por vários anos. Ele conta com ampla rede de proteção, tudo “grátis”. O mecanismo de incentivos é perverso, desestimulando a produção e alimentando o parasitismo. Ser funcionário público, com mais privilégios ainda, torna-se a meta de muitos.
Para agravar o quadro, o governo criou um verdadeiro esquema piramidal de Previdência Social. As pessoas se aposentam cedo, mesmo vivendo mais. E a aposentadoria guarda pouca relação com o que foi efetivamente poupado durante os anos trabalhados. Trata-se de um esquema Ponzi de transferência de recursos.
Esta ilha da fantasia pode ser mantida enquanto houver demografia favorável. Mas, inevitavelmente, a conta terá de ser paga. O inverno um dia chega para as cigarras. Com o envelhecimento da população, o sistema implode.
A entrada da China na globalização foi responsável por um dos maiores choques de produtividade da história. São milhões de formigas dispostas a produzir tudo mais barato. Os bancos centrais, cúmplices dos governos deficitários, puderam manter estímulos artificiais sem grandes impactos na inflação. O mundo todo crescia. Era a “Grande Moderação”. As cigarras estavam felizes.
Mas o inverno chegou. A bolha de crédito explodiu, sendo absorvida por governos já demasiadamente endividados. O déficit fiscal saiu de controle, e a dívida pública passou de 100% do PIB em alguns casos. Com carga tributária já na casa dos 50% do PIB, os governos ficaram sem margem de manobra. Resta cortar drasticamente os gastos públicos, desmontando o Estado social.
Claro que este encontro com a dura realidade incomoda muita gente. Inúmeras pessoas se acostumaram com a “dolce vita” das cigarras. A tensão social cresce visivelmente nas ruas. A alternativa tentadora é imprimir moeda. Mas a Europa não conta com a mesma flexibilidade dos EUA, e a Alemanha representa um obstáculo à “solução” inflacionária. Ela já viu o diabo da hiperinflação de perto e sabe como ele é feio.
Não há saída fácil para esta sinuca de bico. A crise é fruto de décadas de gastos públicos crescentes, gradual perda de competitividade econômica e envelhecimento populacional. O euro, uma criação política, fez os países mais irresponsáveis ganharem tempo. Mas chegou a hora da verdade.
O modelo de bem-estar social europeu está em xeque, ainda que Obama queira seguir no mesmo caminho. Por isso o Tea Party gera tanta revolta. Os social-democratas gostariam de crer que é possível viver eternamente no conto de fadas. Estão apavorados com a idéia de que finalmente a fatura dos anos de farra irresponsável chegou. Com juros.
“No longo prazo estaremos todos mortos”, disse um dos ícones desta mentalidade hedonista. Mas o longo prazo chegou. E se Keynes já morreu, muitos ainda estão vivos. É a social-democracia keynesiana que corre risco de vida.
E o Brasil? Seguimos aqui o mesmo modelo falido. Enquanto a China e a demografia ajudarem, a farra poderá continuar. Mas um dia a fatura chegará para os brasileiros também. Podem anotar.
segunda-feira, agosto 22, 2011
Viva o contrabando!
Deu no G1:
A Secretaria da Receita Federal informou nesta segunda-feira (22) que o aumento do preço dos cigarros será de 20% em dezembro deste ano, caso os fabricantes repassem todo o aumento do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) autorizado pelo governo.
O Fisco anunciou ainda que a tributação dos cigarros continuará crescendo no futuro, com alíquotas maiores do IPI no início de cada ano. No começo de 2015, o preço médio dos cigarros, caso os reajustes do imposto sejam repassados pelos fabricantes, estará 55% maior, informou a Receita Federal.
[...]
Peso dos impostos
Atualmente, a carga tributária sobre os cigarros, incluindo tributos cobrados pelo governo federal e o ICMS dos estados, varia de 51% a 61%, de acordo com a classe e a embalagem, informou a Receita Federal. Atualmente, a tributação é fixa, e varia de R$ 0,764 a R$ 1,30 por maço de cigarro. Com a nova forma de tributação dos cigarros, o peso dos tributos na composição do preço final subirá para 60% a 72%. Deste modo, cerca de dois terços do preço do produto será composto por tributos federais e estaduais.
[...]
Ministério da Saúde aprova
O Ministério da Saúde informou que considera o aumento na tributação sobre os cigarros como "um avanço no combate ao tabagismo no país".
“A prevenção da iniciação ao tabagismo entre jovens é, hoje, um dos maiores desafios nacionais a serem enfrentados no âmbito da Política Nacional de Controle do Tabaco. Certamente, esse esforço representa um dos passos mais importantes do governo, nesse sentido”, segundo avaliação deTania Cavalcante, secretária executiva da Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ).
O hábito de fumar, segundo o Ministério da Saúde, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer e as enfermidades respiratórias. Por isso, medidas como o aumento na tributação sobre o cigarro fazem parte da proposta do Plano de Ações para Enfretamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis, informou.
Comentário: o mercado negro de cigarros no Brasil já está na faixa dos 30%. Aumentar impostos apenas estimula este mercado paralelo. Ajuda os produtores do Paraguai, as fábricas de quintal, que produzem cigarros de pior qualidade, ainda mais prejudiciais à saúde. A Lei Seca americana provou que a proibição não elimina a demanda; apenas transfere a oferta para as mãos de criminosos como Al Capone. Notem ainda que o objetivo parece ser EXTIRPAR o cigarro. A ideia de "sin taxes" não é nova. O governo se coloca como guardião da saúde dos indivíduos. Com que direito? Eis a questão que permanece sem resposta. Não custa lembrar que os nazistas tinha o mesmo objetivo, em nome da "pureza" da raça e da saúde. Quantas coisas fazem mal à saúde? Fritura, gordura, álcool, ócio, tudo é perigoso, especialmente em altas doses (a diferença entre remédio e veneno muitas vezes é a dose). Mas ninguém deu ao governo o direito de interferir nas escolhas individuais dessa maneira. Em vez de ficar subindo impostos sobre cigarro, o governo deveria cortar drasticamente seus gastos inchados e reduzir os impostos gerais.
A Secretaria da Receita Federal informou nesta segunda-feira (22) que o aumento do preço dos cigarros será de 20% em dezembro deste ano, caso os fabricantes repassem todo o aumento do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) autorizado pelo governo.
O Fisco anunciou ainda que a tributação dos cigarros continuará crescendo no futuro, com alíquotas maiores do IPI no início de cada ano. No começo de 2015, o preço médio dos cigarros, caso os reajustes do imposto sejam repassados pelos fabricantes, estará 55% maior, informou a Receita Federal.
[...]
Peso dos impostos
Atualmente, a carga tributária sobre os cigarros, incluindo tributos cobrados pelo governo federal e o ICMS dos estados, varia de 51% a 61%, de acordo com a classe e a embalagem, informou a Receita Federal. Atualmente, a tributação é fixa, e varia de R$ 0,764 a R$ 1,30 por maço de cigarro. Com a nova forma de tributação dos cigarros, o peso dos tributos na composição do preço final subirá para 60% a 72%. Deste modo, cerca de dois terços do preço do produto será composto por tributos federais e estaduais.
[...]
Ministério da Saúde aprova
O Ministério da Saúde informou que considera o aumento na tributação sobre os cigarros como "um avanço no combate ao tabagismo no país".
“A prevenção da iniciação ao tabagismo entre jovens é, hoje, um dos maiores desafios nacionais a serem enfrentados no âmbito da Política Nacional de Controle do Tabaco. Certamente, esse esforço representa um dos passos mais importantes do governo, nesse sentido”, segundo avaliação deTania Cavalcante, secretária executiva da Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ).
O hábito de fumar, segundo o Ministério da Saúde, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer e as enfermidades respiratórias. Por isso, medidas como o aumento na tributação sobre o cigarro fazem parte da proposta do Plano de Ações para Enfretamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis, informou.
Comentário: o mercado negro de cigarros no Brasil já está na faixa dos 30%. Aumentar impostos apenas estimula este mercado paralelo. Ajuda os produtores do Paraguai, as fábricas de quintal, que produzem cigarros de pior qualidade, ainda mais prejudiciais à saúde. A Lei Seca americana provou que a proibição não elimina a demanda; apenas transfere a oferta para as mãos de criminosos como Al Capone. Notem ainda que o objetivo parece ser EXTIRPAR o cigarro. A ideia de "sin taxes" não é nova. O governo se coloca como guardião da saúde dos indivíduos. Com que direito? Eis a questão que permanece sem resposta. Não custa lembrar que os nazistas tinha o mesmo objetivo, em nome da "pureza" da raça e da saúde. Quantas coisas fazem mal à saúde? Fritura, gordura, álcool, ócio, tudo é perigoso, especialmente em altas doses (a diferença entre remédio e veneno muitas vezes é a dose). Mas ninguém deu ao governo o direito de interferir nas escolhas individuais dessa maneira. Em vez de ficar subindo impostos sobre cigarro, o governo deveria cortar drasticamente seus gastos inchados e reduzir os impostos gerais.
'We Are All Threatened by Contagion'
By Christian Reiermann, SPIEGEL Online
In an interview with SPIEGEL, Dutch Finance Minister Jan Kees de Jager calls on the German government to remain firm in its opposition to euro bonds. He also warns that even the fiscally solid nations of the euro zone will get into trouble if they keep having to increase the volume of the bailout fund.
SPIEGEL: Minister, an increasing number of voices in the EU are calling for euro bonds to be used to end the crisis in the euro zone. Are you among these advocates?
De Jager: No, absolutely not. Euro bonds are not the solution. You cannot end a debt crisis by introducing a new form of debt. Instead, the countries concerned have to tighten up their budgets and introduce reforms to get their economies back on track. Euro bonds are no alternative -- on the contrary, they would have a perverse effect.
SPIEGEL: How so?
De Jager: Euro bonds remove every incentive for ailing countries to return to sensible fiscal and economic policies. Since they offer lower interest rates than their previous government bonds, they induce governments to run up more debt instead of saving. I call that perverse.
SPIEGEL: Even billionaire investor George Soros is calling for euro bonds. Are you saying he doesn't know what he's talking about?
De Jager: He is at least not considering the long-term repercussions of his proposal. Over the short term, euro bonds might calm the markets. But if we don't change the general conditions, five years from now we will have the next crisis, which could be even worse than the present one because even healthy countries like Germany and the Netherlands would be much more in debt.
SPIEGEL: The German government also opposes euro bonds. How long do you think it will be able to maintain this position?
De Jager: I expect the German government to stick to this position. Euro bonds may be an option over the long term, but only if all member countries of the monetary union pursue the same financial policies. We still have a long way to go before we achieve that.
SPIEGEL: The only remaining source of short-term aid is the European Financial Stability Facility (EFSF) bailout fund, which the heads of state and government gave new powers to in late July, yet did not provide with more money. Shouldn't it be increased to remain credible?
De Jager: I'm not generally opposed to bolstering the EFSF, but even that is not a panacea. €440 billion ($632 billion) is not sparse. But if necessary, we're open to talking about it.
SPIEGEL: Wouldn't it make sense to go ahead and double the financial framework right now?
De Jager: That's easy to say, but such an operation has an impact on the creditworthiness of the donor countries. Germany and the Netherlands have a solid AAA rating from the rating agencies. That's not true for all countries with the highest rating …
SPIEGEL: You mean France.
De Jager: I'm not alluding to any particular country. Such countries are in danger of losing their top rating if they have to extend even more guarantees to the EFSF. Ultimately, we are all threatened by contagion. We cannot simply say that the last member of the currency union that still retains an AAA rating will guarantee the debt of all the remaining countries. The solution to the debt crisis is not to create more debt, but less.
SPIEGEL: Won't it be necessary to bolster the EFSF if Italy needs aid?
De Jager: Italy is a large country with debts of nearly €2 trillion. The sheer size of this figure shows that Italy must never be bailed out by the rescue fund. I am also firmly convinced that it won't come to that. The country's government has approved an austerity program and the budget deficit has not developed nearly as alarmingly as in some other countries.
SPIEGEL: What happens if Greece is not in a position to meet the requirements of the second bailout package -- will there be a third one?
De Jager: Should the Greek government not be in a position to fulfill the terms of the bailout program, then the Netherlands will refuse to provide any further aid. Then we will also block the next installment of the bailout package. The country has no choice but to continue to save and reform.
SPIEGEL: Finland wants collateral from the Greeks in return for additional aid. Isn't this unfair to the other donor countries?
De Jager: As far as we are concerned, no deal has been made. This is an issue that will have to be addressed by all the countries in the euro zone. Throughout the negotiations we have indicated that if Finland receives collateral, the Netherlands also wants the same treatment.
SPIEGEL: Do you think it's possible that the Greeks will leave the euro zone?
De Jager: No, I don't think so. This would make things even harder for the Greek population than they already are now. Failure is not an option for Greece.
SPIEGEL: Will there be a point where the rich and powerful countries say: We've had enough, we're opting out?
De Jager: No, such a step would lead to enormous turmoil, which would also cause more suffering to countries with stable finances than they face from the consequences of the bailout packages.
SPIEGEL: In addition to embattled fringe countries in the euro zone, now even France and Italy are introducing austerity programs. Aren't you afraid that this will stifle growth?
De Jager: It may be that the consolidation will cost us a bit of growth. But that is the lesser evil. If the debt crisis were to deepen and spark another financial crisis, this would be much worse because we would certainly slide into a recession.
SPIEGEL: The reason for the most recent turmoil is that the decisions made during the crisis summit were already being questioned after two weeks. What can be done about this cacophony in Europe?
De Jager: The only thing that helps is for everyone involved to practice verbal discipline. I would give the representatives of the 17 national governments a little more leeway since they have to justify their actions to their parliaments and their people. As for the representatives of European institutions like the Commission, I would recommend thinking very carefully about what impact their comments may have on the markets. A bit more restraint would sometimes be appropriate.
SPIEGEL: You are referring to Commission President José Manuel Barroso who, only two weeks after the summit, sent an open letter to EU leaders voicing his deep dissatisfaction with the effectiveness of the decisions.
De Jager: I'm not mentioning any names, but the guilty parties know who they are.
SPIEGEL: Doesn't the euro zone need institutional reforms to become more credible in the eyes of the markets?
De Jager: You are absolutely right. Tightening the Stability Pact has put us on the right track, but that's not enough. What we need above all are credible sanctioning mechanisms that take effect when rules are broken. We need more teamwork, more cooperation on economic policies, in short: more Europe to implement the agreed rules.
SPIEGEL: Who should impose the sanctions -- the member countries or the Commission?
De Jager: What I envision is an autonomous, independent institution that calls countries to order and imposes penalties. This could be affiliated with an existing institution. Independence is the most important aspect here. German Economy Minister Philipp Rösler proposed something similar under the name of a European Stability Council. I like the idea very much.
SPIEGEL: Who should make the decisions in this body?
De Jager: Academics and experts -- but no politicians.
In an interview with SPIEGEL, Dutch Finance Minister Jan Kees de Jager calls on the German government to remain firm in its opposition to euro bonds. He also warns that even the fiscally solid nations of the euro zone will get into trouble if they keep having to increase the volume of the bailout fund.
SPIEGEL: Minister, an increasing number of voices in the EU are calling for euro bonds to be used to end the crisis in the euro zone. Are you among these advocates?
De Jager: No, absolutely not. Euro bonds are not the solution. You cannot end a debt crisis by introducing a new form of debt. Instead, the countries concerned have to tighten up their budgets and introduce reforms to get their economies back on track. Euro bonds are no alternative -- on the contrary, they would have a perverse effect.
SPIEGEL: How so?
De Jager: Euro bonds remove every incentive for ailing countries to return to sensible fiscal and economic policies. Since they offer lower interest rates than their previous government bonds, they induce governments to run up more debt instead of saving. I call that perverse.
SPIEGEL: Even billionaire investor George Soros is calling for euro bonds. Are you saying he doesn't know what he's talking about?
De Jager: He is at least not considering the long-term repercussions of his proposal. Over the short term, euro bonds might calm the markets. But if we don't change the general conditions, five years from now we will have the next crisis, which could be even worse than the present one because even healthy countries like Germany and the Netherlands would be much more in debt.
SPIEGEL: The German government also opposes euro bonds. How long do you think it will be able to maintain this position?
De Jager: I expect the German government to stick to this position. Euro bonds may be an option over the long term, but only if all member countries of the monetary union pursue the same financial policies. We still have a long way to go before we achieve that.
SPIEGEL: The only remaining source of short-term aid is the European Financial Stability Facility (EFSF) bailout fund, which the heads of state and government gave new powers to in late July, yet did not provide with more money. Shouldn't it be increased to remain credible?
De Jager: I'm not generally opposed to bolstering the EFSF, but even that is not a panacea. €440 billion ($632 billion) is not sparse. But if necessary, we're open to talking about it.
SPIEGEL: Wouldn't it make sense to go ahead and double the financial framework right now?
De Jager: That's easy to say, but such an operation has an impact on the creditworthiness of the donor countries. Germany and the Netherlands have a solid AAA rating from the rating agencies. That's not true for all countries with the highest rating …
SPIEGEL: You mean France.
De Jager: I'm not alluding to any particular country. Such countries are in danger of losing their top rating if they have to extend even more guarantees to the EFSF. Ultimately, we are all threatened by contagion. We cannot simply say that the last member of the currency union that still retains an AAA rating will guarantee the debt of all the remaining countries. The solution to the debt crisis is not to create more debt, but less.
SPIEGEL: Won't it be necessary to bolster the EFSF if Italy needs aid?
De Jager: Italy is a large country with debts of nearly €2 trillion. The sheer size of this figure shows that Italy must never be bailed out by the rescue fund. I am also firmly convinced that it won't come to that. The country's government has approved an austerity program and the budget deficit has not developed nearly as alarmingly as in some other countries.
SPIEGEL: What happens if Greece is not in a position to meet the requirements of the second bailout package -- will there be a third one?
De Jager: Should the Greek government not be in a position to fulfill the terms of the bailout program, then the Netherlands will refuse to provide any further aid. Then we will also block the next installment of the bailout package. The country has no choice but to continue to save and reform.
SPIEGEL: Finland wants collateral from the Greeks in return for additional aid. Isn't this unfair to the other donor countries?
De Jager: As far as we are concerned, no deal has been made. This is an issue that will have to be addressed by all the countries in the euro zone. Throughout the negotiations we have indicated that if Finland receives collateral, the Netherlands also wants the same treatment.
SPIEGEL: Do you think it's possible that the Greeks will leave the euro zone?
De Jager: No, I don't think so. This would make things even harder for the Greek population than they already are now. Failure is not an option for Greece.
SPIEGEL: Will there be a point where the rich and powerful countries say: We've had enough, we're opting out?
De Jager: No, such a step would lead to enormous turmoil, which would also cause more suffering to countries with stable finances than they face from the consequences of the bailout packages.
SPIEGEL: In addition to embattled fringe countries in the euro zone, now even France and Italy are introducing austerity programs. Aren't you afraid that this will stifle growth?
De Jager: It may be that the consolidation will cost us a bit of growth. But that is the lesser evil. If the debt crisis were to deepen and spark another financial crisis, this would be much worse because we would certainly slide into a recession.
SPIEGEL: The reason for the most recent turmoil is that the decisions made during the crisis summit were already being questioned after two weeks. What can be done about this cacophony in Europe?
De Jager: The only thing that helps is for everyone involved to practice verbal discipline. I would give the representatives of the 17 national governments a little more leeway since they have to justify their actions to their parliaments and their people. As for the representatives of European institutions like the Commission, I would recommend thinking very carefully about what impact their comments may have on the markets. A bit more restraint would sometimes be appropriate.
SPIEGEL: You are referring to Commission President José Manuel Barroso who, only two weeks after the summit, sent an open letter to EU leaders voicing his deep dissatisfaction with the effectiveness of the decisions.
De Jager: I'm not mentioning any names, but the guilty parties know who they are.
SPIEGEL: Doesn't the euro zone need institutional reforms to become more credible in the eyes of the markets?
De Jager: You are absolutely right. Tightening the Stability Pact has put us on the right track, but that's not enough. What we need above all are credible sanctioning mechanisms that take effect when rules are broken. We need more teamwork, more cooperation on economic policies, in short: more Europe to implement the agreed rules.
SPIEGEL: Who should impose the sanctions -- the member countries or the Commission?
De Jager: What I envision is an autonomous, independent institution that calls countries to order and imposes penalties. This could be affiliated with an existing institution. Independence is the most important aspect here. German Economy Minister Philipp Rösler proposed something similar under the name of a European Stability Council. I like the idea very much.
SPIEGEL: Who should make the decisions in this body?
De Jager: Academics and experts -- but no politicians.
How Not to Grow an Economy
Editorial do WSJ
Financial markets are in turmoil, investors are fleeing to safe havens, and the chances of another recession are rising. This would seem to be a moment when government should be especially careful to do no harm, to talk and walk softly, and to reassure business that Washington wants more private investment and hiring.
But this is not how our current government behaves. Day after day brings headlines of another legislative, regulatory or enforcement action that gives CEOs and investors reason to hunker down, retain as much cash as possible and ride out whatever storms are ahead. This is not the way to nurture an already fragile recovery, much less help the economy to endure shocks from Europe, natural disasters or a big bank failure.
Consider the headlines only from last week, a slow week by Washington standards, with Congress out of session and President Obama campaigning for three days before going on vacation. Even in the dog days of August, your government was hard at work undermining economic confidence.
• Monday: "Warren Buffett right about taxes, says Obama." The week began with a one-two tax punch from Warren Buffett and President Obama. The Omaha stock-picker wrote an op-ed begging Congress to raise taxes on millions of Americans who make less than he does, and the President used the first stop of his bus tour, in Cannon Falls, Minnesota, to agree.
"I put a deal before the Speaker of the House, John Boehner, that would have solved this problem," Mr. Obama said, "and he walked away because his belief was we can't ask anything of millionaires and billionaires and big corporations in order to close our deficit." So America's main job creators are still on notice that a tax increase is in their future in 2013, if not sooner.
• Tuesday: "Federal mortgage role to be preserved: Obama is working to develop new housing policy." A Washington Post story reported that Mr. Obama has directed a White House team to develop a housing plan that would keep the feds deeply involved in mortgage markets, with subsidies and loan guarantees, perhaps even preserving Fannie Mae and Freddie Mac.
This contradicts the Treasury's February white paper recommending a much smaller government role in housing without Fan and Fred. A Treasury official responded that the white paper is still guiding policy, but private investors who might want to get into housing finance know the Post story came from someone in authority and have another reason to stay on the sidelines.
• Thursday: "Justice Inquiry Is Said to Focus on S.&P. Ratings." Barely two weeks after Standard & Poor's downgraded U.S. debt over White House protests, we learn that the feds are going after the firm for its ratings on mortgage securities before the financial crisis. The feds say the probe was underway before the downgrade, but the credit rater's mortgage mistakes have been known for years. And why not Moody's or Fitch?
The message: If you disagree with this Administration, you'd better lawyer-up.
• Thursday: "Exxon, U.S. Government Duel Over Huge Oil Find." Exxon has made the biggest oil discoveries ever in the Gulf of Mexico at some one billion barrels, but the feds have taken the extraordinary action of denying the oil company what had long been routine oil lease extensions. So Exxon and a Norwegian firm are suing the feds to be able to drill on the leases, spending money on lawyers for permission to create jobs and increase domestic oil production.
• Thursday: "Fed Eyes European Banks: Regulators Scrutinize Ability of Institutions' U.S. Units to Fund Themselves." The Wall Street Journal quotes Federal Reserve Bank of New York officials as saying they're worried about the condition of European banks and are on the job making sure that any problems don't damage American banks. It's nice to know U.S. regulators are earning their pay, but the spectacle of regulators publicly broadcasting troubles at European banks does nothing to calm already jittery interbank markets.
• Thursday: "Obama to push stimulus plan." The President signals more government fiscal action, to be unveiled after Labor Day. Ideas on the table: New spending on roads and a tax credit for companies that hire workers.
The thinking, say aides, is to pressure Republicans to pass these proposals or look indifferent to high unemployment. So even as he proposes to reduce deficits far into the future in ways that will depend on decisions by future Congresses, the President will fight to increase spending immediately. Americans may conclude they've heard this cognitive dissonance before.
None of these stories by themselves—or even a week of them—is enough to undermine a recovery. But the cascade of such stories day after day—about new regulations, new prosecutions or fines against business, new obstacles to investment, more spending and higher taxes—contributes to the larger lack of business and consumer confidence.
It's impossible to quantify the impact of such policies on lost GDP or lost job creation, but everyone in the real economy understands how such signals work. The great tragedy of the Obama nonrecovery is that this Administration still doesn't realize the damage it is doing.
Financial markets are in turmoil, investors are fleeing to safe havens, and the chances of another recession are rising. This would seem to be a moment when government should be especially careful to do no harm, to talk and walk softly, and to reassure business that Washington wants more private investment and hiring.
But this is not how our current government behaves. Day after day brings headlines of another legislative, regulatory or enforcement action that gives CEOs and investors reason to hunker down, retain as much cash as possible and ride out whatever storms are ahead. This is not the way to nurture an already fragile recovery, much less help the economy to endure shocks from Europe, natural disasters or a big bank failure.
Consider the headlines only from last week, a slow week by Washington standards, with Congress out of session and President Obama campaigning for three days before going on vacation. Even in the dog days of August, your government was hard at work undermining economic confidence.
• Monday: "Warren Buffett right about taxes, says Obama." The week began with a one-two tax punch from Warren Buffett and President Obama. The Omaha stock-picker wrote an op-ed begging Congress to raise taxes on millions of Americans who make less than he does, and the President used the first stop of his bus tour, in Cannon Falls, Minnesota, to agree.
"I put a deal before the Speaker of the House, John Boehner, that would have solved this problem," Mr. Obama said, "and he walked away because his belief was we can't ask anything of millionaires and billionaires and big corporations in order to close our deficit." So America's main job creators are still on notice that a tax increase is in their future in 2013, if not sooner.
• Tuesday: "Federal mortgage role to be preserved: Obama is working to develop new housing policy." A Washington Post story reported that Mr. Obama has directed a White House team to develop a housing plan that would keep the feds deeply involved in mortgage markets, with subsidies and loan guarantees, perhaps even preserving Fannie Mae and Freddie Mac.
This contradicts the Treasury's February white paper recommending a much smaller government role in housing without Fan and Fred. A Treasury official responded that the white paper is still guiding policy, but private investors who might want to get into housing finance know the Post story came from someone in authority and have another reason to stay on the sidelines.
• Thursday: "Justice Inquiry Is Said to Focus on S.&P. Ratings." Barely two weeks after Standard & Poor's downgraded U.S. debt over White House protests, we learn that the feds are going after the firm for its ratings on mortgage securities before the financial crisis. The feds say the probe was underway before the downgrade, but the credit rater's mortgage mistakes have been known for years. And why not Moody's or Fitch?
The message: If you disagree with this Administration, you'd better lawyer-up.
• Thursday: "Exxon, U.S. Government Duel Over Huge Oil Find." Exxon has made the biggest oil discoveries ever in the Gulf of Mexico at some one billion barrels, but the feds have taken the extraordinary action of denying the oil company what had long been routine oil lease extensions. So Exxon and a Norwegian firm are suing the feds to be able to drill on the leases, spending money on lawyers for permission to create jobs and increase domestic oil production.
• Thursday: "Fed Eyes European Banks: Regulators Scrutinize Ability of Institutions' U.S. Units to Fund Themselves." The Wall Street Journal quotes Federal Reserve Bank of New York officials as saying they're worried about the condition of European banks and are on the job making sure that any problems don't damage American banks. It's nice to know U.S. regulators are earning their pay, but the spectacle of regulators publicly broadcasting troubles at European banks does nothing to calm already jittery interbank markets.
• Thursday: "Obama to push stimulus plan." The President signals more government fiscal action, to be unveiled after Labor Day. Ideas on the table: New spending on roads and a tax credit for companies that hire workers.
The thinking, say aides, is to pressure Republicans to pass these proposals or look indifferent to high unemployment. So even as he proposes to reduce deficits far into the future in ways that will depend on decisions by future Congresses, the President will fight to increase spending immediately. Americans may conclude they've heard this cognitive dissonance before.
None of these stories by themselves—or even a week of them—is enough to undermine a recovery. But the cascade of such stories day after day—about new regulations, new prosecutions or fines against business, new obstacles to investment, more spending and higher taxes—contributes to the larger lack of business and consumer confidence.
It's impossible to quantify the impact of such policies on lost GDP or lost job creation, but everyone in the real economy understands how such signals work. The great tragedy of the Obama nonrecovery is that this Administration still doesn't realize the damage it is doing.
My Response To Buffett And Obama
By HARVEY GOLUB, WSJ
Over the years, I have paid a significant portion of my income to the various federal, state and local jurisdictions in which I have lived, and I deeply resent that President Obama has decided that I don't need all the money I've not paid in taxes over the years, or that I should leave less for my children and grandchildren and give more to him to spend as he thinks fit. I also resent that Warren Buffett and others who have created massive wealth for themselves think I'm "coddled" because they believe they should pay more in taxes. I certainly don't feel "coddled" because these various governments have not imposed a higher income tax. After all, I did earn it.
Now that I'm 72 years old, I can look forward to paying a significant portion of my accumulated wealth in estate taxes to the federal government and, depending on the state I live in at the time, to that state government as well. Of my current income this year, I expect to pay 80%-90% in federal income taxes, state income taxes, Social Security and Medicare taxes, and federal and state estate taxes. Isn't that enough?
Others could pay higher taxes if they choose. They could voluntarily write a check or they could advocate that their gifts to foundations should be made with after-tax dollars and not be deductible. They could also pay higher taxes if they were not allowed to set up foundations to avoid capital gains and estate taxes.
What gets me most upset is two other things about this argument: the unfair way taxes are collected, and the violation of the implicit social contract between me and my government that my taxes will be spent—effectively and efficiently—on purposes that support the general needs of the country. Before you call me greedy, make sure you operate fairly on both fronts.
Today, top earners—the 250,000 people who earn $1 million or more—pay 20% of all income taxes, and the 3% who earn more than $200,000 pay almost half. Almost half of all filers pay no income taxes at all. Clearly they earn less and should pay less. But they should pay something and have a stake in our government spending their money too.
In addition, the extraordinarily complex tax code is replete with favors to various interest groups and industries, favors granted by politicians seeking to retain power. Mortgage interest deductions support the private housing industry at the expense of renters. Generous fringe benefits are not taxed at all, in order to support union and government workers at the expense of people who buy their own insurance with after-tax dollars. Gifts to charities are deductible but gifts to grandchildren are not. That's just a short list, and all of it is unfair.
Governments have an obligation to spend our tax money on programs that work. They fail at this fundamental task. Do we really need dozens of retraining programs with no measure of performance or results? Do we really need to spend money on solar panels, windmills and battery-operated cars when we have ample energy supplies in this country? Do we really need all the regulations that put an estimated $2 trillion burden on our economy by raising the price of things we buy? Do we really need subsidies for domestic sugar farmers and ethanol producers?
Why do we require that public projects pay above-market labor costs? Why do we spend billions on trains that no one will ride? Why do we keep post offices open in places no one lives? Why do we subsidize small airports in communities close to larger ones? Why do we pay government workers above-market rates and outlandish benefits? Do we really need an energy department or an education department at all?
Here's my message: Before you "ask" for more tax money from me and others, raise the $2.2 trillion you already collect each year more fairly and spend it more wisely. Then you'll need less of my money.
Mr. Golub, a former chairman and CEO of American Express, currently serves on the executive committee of the American Enterprise Institute.
Over the years, I have paid a significant portion of my income to the various federal, state and local jurisdictions in which I have lived, and I deeply resent that President Obama has decided that I don't need all the money I've not paid in taxes over the years, or that I should leave less for my children and grandchildren and give more to him to spend as he thinks fit. I also resent that Warren Buffett and others who have created massive wealth for themselves think I'm "coddled" because they believe they should pay more in taxes. I certainly don't feel "coddled" because these various governments have not imposed a higher income tax. After all, I did earn it.
Now that I'm 72 years old, I can look forward to paying a significant portion of my accumulated wealth in estate taxes to the federal government and, depending on the state I live in at the time, to that state government as well. Of my current income this year, I expect to pay 80%-90% in federal income taxes, state income taxes, Social Security and Medicare taxes, and federal and state estate taxes. Isn't that enough?
Others could pay higher taxes if they choose. They could voluntarily write a check or they could advocate that their gifts to foundations should be made with after-tax dollars and not be deductible. They could also pay higher taxes if they were not allowed to set up foundations to avoid capital gains and estate taxes.
What gets me most upset is two other things about this argument: the unfair way taxes are collected, and the violation of the implicit social contract between me and my government that my taxes will be spent—effectively and efficiently—on purposes that support the general needs of the country. Before you call me greedy, make sure you operate fairly on both fronts.
Today, top earners—the 250,000 people who earn $1 million or more—pay 20% of all income taxes, and the 3% who earn more than $200,000 pay almost half. Almost half of all filers pay no income taxes at all. Clearly they earn less and should pay less. But they should pay something and have a stake in our government spending their money too.
In addition, the extraordinarily complex tax code is replete with favors to various interest groups and industries, favors granted by politicians seeking to retain power. Mortgage interest deductions support the private housing industry at the expense of renters. Generous fringe benefits are not taxed at all, in order to support union and government workers at the expense of people who buy their own insurance with after-tax dollars. Gifts to charities are deductible but gifts to grandchildren are not. That's just a short list, and all of it is unfair.
Governments have an obligation to spend our tax money on programs that work. They fail at this fundamental task. Do we really need dozens of retraining programs with no measure of performance or results? Do we really need to spend money on solar panels, windmills and battery-operated cars when we have ample energy supplies in this country? Do we really need all the regulations that put an estimated $2 trillion burden on our economy by raising the price of things we buy? Do we really need subsidies for domestic sugar farmers and ethanol producers?
Why do we require that public projects pay above-market labor costs? Why do we spend billions on trains that no one will ride? Why do we keep post offices open in places no one lives? Why do we subsidize small airports in communities close to larger ones? Why do we pay government workers above-market rates and outlandish benefits? Do we really need an energy department or an education department at all?
Here's my message: Before you "ask" for more tax money from me and others, raise the $2.2 trillion you already collect each year more fairly and spend it more wisely. Then you'll need less of my money.
Mr. Golub, a former chairman and CEO of American Express, currently serves on the executive committee of the American Enterprise Institute.
Os sem-iPad
LUIZ FELIPE PONDÉ, Folha de SP
A "culpa" do que ocorre em Londres não é do consumo. Muitos se acostumaram a ser tratados como bebês
Você sabia que agora existe em Londres o movimento dos sem-iPad? Coitadinhos deles. Quebram tudo porque a malvada sociedade do consumo os obriga a desejar iPads... No passado todo mundo era "obrigado" a desejar cavalos, tecidos de seda, especiarias, facas, tambores, ouro, mulheres...
Como ficam as pessoas que desejam, não têm, mas nem por isso saqueiam lojas, mas sim trabalham duro? Seriam estes uns idiotas por saberem que nem tudo que queremos podemos ter e que a vida sempre foi dura?
Esta questão é moral. Dizer que não é moral é não saber o que é moral, ou apenas oportunismo... moral. Resistir ao desejo é um problema de caráter. Um dos pecados do pensamento público hoje é não reconhecer o conceito de caráter.
Logo existirão os "sem-Ferrari", os "sem-Blackberry", os "sem-Prada" também? Que tal um "bolsa Blackberry"? Devemos criar um imposto para os "sem-Blackberry"?
Na Inglaterra, dizem, existem famílias que nunca trabalharam vivendo graças ao governo há gerações. É, tem gente que ainda não aprendeu que não existe almoço de graça.
Mas esse fenômeno de querer desculpar todo mundo da responsabilidade moral do que faz não é invenção de quem hoje justifica a violência em Londres clamando por justiça social na distribuição de iPads.
É conhecida a passagem na qual o "homem do subsolo" no livro "Memórias do Subsolo", de Dostoiévski, abre suas confissões dizendo que é um homem amargo. Em seguida, alude à teoria comum de que ele assim o seria por sofrer do fígado. Logo, a culpa por ele ser amargo seria do fígado.
Ele recusa tal desculpa para sua personalidade insuportável e prefere assumir que é mesmo um homem mau. Eis um homem de caráter, coisa rara hoje em dia.
Agora, todo mundo gosta de "algum fígado" (a sociedade de consumo, o patriarcalismo, a Apple) que justifique suas misérias morais.
O profeta russo percebeu que as ciências preparavam uma série de teorias que tirariam a responsabilidade do homem pelos seus atos.
A moda pegou nos jantares inteligentes e hoje temos vários tipos de "teorias do fígado" para justificar nossas misérias morais.
Uma delas é a teoria de que somos construídos socialmente.
Dito de outra forma: O "sujeito é um constructo social". Logo, quebro loja em Londres porque fui "construído" para enlouquecer se não tenho um iPad. Tadinho...
Tem gente por aí que tem verdadeiro orgasmo com essa bobagem.
Não resta dúvida de que há algo verdadeiro na ideia de que somos influenciados pelo meio em que vivemos.
Por exemplo, se você nasce numa favela, isso não vai passar "desapercebido" nos seus modos à mesa, no seu comportamento cotidiano e nas suas expectativas e possibilidades na vida.
Mas aí dizer que "o sujeito é um constructo social" é pura picaretagem intelectual. Ninguém consegue ou conseguirá provar isso nunca, mas quem precisa de "provas" quando o que está em jogo são as ciências humanas, que de "ciência" não têm nada.
Esse blábláblá não só exime o sujeito da responsabilidade moral, como abre a porta para todo tipo de "experimento" psicossocial, político ou justificativa moral, que, na realidade, serve pra qualquer um inventar todo tipo de conversa fiada em ciências humanas "práticas".
Por que tanta gente adora essa teoria? Suponho que, antes de tudo, o alivie de ser você e coloque a "culpa" de você ser você no pai, na mãe, na escola, na vizinha, na sociedade, no consumo, na igreja, no patriarcalismo, no machismo, na cama de casal, no iPad, no diabo a quatro. Menos em você.
Temos aí uma prova de que grande parte das ciências humanas não reconhece o conceito de caráter.
Moral é exatamente você resistir a impulsos que outras pessoas, sem caráter, não resistem. Já leu Aristóteles? Kant?
A "culpa" do que hoje acontece em Londres não é do consumo. Homens sempre quebram coisas de vez em quando e querem coisas sem esforço. As causas podem variar. Hoje em dia, seguramente, uma delas é que muita gente está acostumada a um Estado de bem estar social que os trata como bebês.
A preguiça, sim, é um traço universal do ser humano.
A "culpa" do que ocorre em Londres não é do consumo. Muitos se acostumaram a ser tratados como bebês
Você sabia que agora existe em Londres o movimento dos sem-iPad? Coitadinhos deles. Quebram tudo porque a malvada sociedade do consumo os obriga a desejar iPads... No passado todo mundo era "obrigado" a desejar cavalos, tecidos de seda, especiarias, facas, tambores, ouro, mulheres...
Como ficam as pessoas que desejam, não têm, mas nem por isso saqueiam lojas, mas sim trabalham duro? Seriam estes uns idiotas por saberem que nem tudo que queremos podemos ter e que a vida sempre foi dura?
Esta questão é moral. Dizer que não é moral é não saber o que é moral, ou apenas oportunismo... moral. Resistir ao desejo é um problema de caráter. Um dos pecados do pensamento público hoje é não reconhecer o conceito de caráter.
Logo existirão os "sem-Ferrari", os "sem-Blackberry", os "sem-Prada" também? Que tal um "bolsa Blackberry"? Devemos criar um imposto para os "sem-Blackberry"?
Na Inglaterra, dizem, existem famílias que nunca trabalharam vivendo graças ao governo há gerações. É, tem gente que ainda não aprendeu que não existe almoço de graça.
Mas esse fenômeno de querer desculpar todo mundo da responsabilidade moral do que faz não é invenção de quem hoje justifica a violência em Londres clamando por justiça social na distribuição de iPads.
É conhecida a passagem na qual o "homem do subsolo" no livro "Memórias do Subsolo", de Dostoiévski, abre suas confissões dizendo que é um homem amargo. Em seguida, alude à teoria comum de que ele assim o seria por sofrer do fígado. Logo, a culpa por ele ser amargo seria do fígado.
Ele recusa tal desculpa para sua personalidade insuportável e prefere assumir que é mesmo um homem mau. Eis um homem de caráter, coisa rara hoje em dia.
Agora, todo mundo gosta de "algum fígado" (a sociedade de consumo, o patriarcalismo, a Apple) que justifique suas misérias morais.
O profeta russo percebeu que as ciências preparavam uma série de teorias que tirariam a responsabilidade do homem pelos seus atos.
A moda pegou nos jantares inteligentes e hoje temos vários tipos de "teorias do fígado" para justificar nossas misérias morais.
Uma delas é a teoria de que somos construídos socialmente.
Dito de outra forma: O "sujeito é um constructo social". Logo, quebro loja em Londres porque fui "construído" para enlouquecer se não tenho um iPad. Tadinho...
Tem gente por aí que tem verdadeiro orgasmo com essa bobagem.
Não resta dúvida de que há algo verdadeiro na ideia de que somos influenciados pelo meio em que vivemos.
Por exemplo, se você nasce numa favela, isso não vai passar "desapercebido" nos seus modos à mesa, no seu comportamento cotidiano e nas suas expectativas e possibilidades na vida.
Mas aí dizer que "o sujeito é um constructo social" é pura picaretagem intelectual. Ninguém consegue ou conseguirá provar isso nunca, mas quem precisa de "provas" quando o que está em jogo são as ciências humanas, que de "ciência" não têm nada.
Esse blábláblá não só exime o sujeito da responsabilidade moral, como abre a porta para todo tipo de "experimento" psicossocial, político ou justificativa moral, que, na realidade, serve pra qualquer um inventar todo tipo de conversa fiada em ciências humanas "práticas".
Por que tanta gente adora essa teoria? Suponho que, antes de tudo, o alivie de ser você e coloque a "culpa" de você ser você no pai, na mãe, na escola, na vizinha, na sociedade, no consumo, na igreja, no patriarcalismo, no machismo, na cama de casal, no iPad, no diabo a quatro. Menos em você.
Temos aí uma prova de que grande parte das ciências humanas não reconhece o conceito de caráter.
Moral é exatamente você resistir a impulsos que outras pessoas, sem caráter, não resistem. Já leu Aristóteles? Kant?
A "culpa" do que hoje acontece em Londres não é do consumo. Homens sempre quebram coisas de vez em quando e querem coisas sem esforço. As causas podem variar. Hoje em dia, seguramente, uma delas é que muita gente está acostumada a um Estado de bem estar social que os trata como bebês.
A preguiça, sim, é um traço universal do ser humano.
A tragédia do euro
Rodrigo Constantino, para a revista Banco de Ideias - IL
A escalada da crise européia coloca em dúvida a própria sobrevivência do euro. Será que Milton Friedman estava certo ao prever que a moeda comum não suportaria sua primeira grande crise? O livro “The Tragedy of the Euro”, de Philipp Bagus, ajuda a lançar luz sobre este debate.
Para o autor, existiam na época da criação do euro duas visões distintas da Europa. De um lado, a visão liberal clássica, que defendia a livre circulação de bens, serviços, capital e mão de obra. Do outro, a visão socialista, com foco na harmonização da regulação social, cuja padronização poderia ameaçar os trabalhadores de países menos competitivos.
A França, devastada após a ocupação nazista e seus fracassos coloniais, encontrou na Comunidade Européia um meio para recuperar sua influência e orgulho. Um Estado centralizado parecia adequado para sua elite governante, e uma moeda comum seria um importante passo nesta direção. A Alemanha, afinal, possuía uma arma muito poderosa que precisava ser desativada: o marco.
Com a criação de uma moeda comum, os países menos competitivos acabaram tendo problemas. É o pretexto perfeito para uma centralização de políticas fiscais, com harmonização tributária. Trata-se de uma forma de acabar com a competição entre governos, que força menos impostos. Todos acabam pressionados para elevar seus tributos ao patamar mais alto. O fim do euro, ao contrário do que alegam os alarmistas, não seria o fim da idéia européia; apenas o fim de sua versão socialista.
Bancos centrais inflacionistas representam o mais poderoso aliado de governos irresponsáveis. O Bundesbank era um obstáculo a esta política inflacionária na região. A Alemanha viveu o inferno da hiperinflação e aprendeu com a experiência. Seu banco central era a pedra no sapato daqueles governos sedentos por mais gastos, mas ávidos por quebrar o termômetro que mostrava a febre do doente. A desvalorização das demais moedas frente ao marco era humilhante. Era preciso se livrar da “tirania” do Bundesbank.
Uma moeda única controlada por um Banco Central Europeu (BCE) era a solução final para os governos com ambições inflacionárias. Esta solução representava a abolição do espírito e força do Bundesbank. Por isso seus principais membros foram totalmente contrários à criação do euro. E por isso seu presidente, Alex Weber, decidiu renunciar há pouco tempo, quando o óbito do Bundesbank foi finalmente decretado após o BCE rasgar sua tradição ortodoxa para salvar governos deficitários.
Hoje se discute um Euro Bond ou uma atuação ainda mais ativa do BCE na compra de títulos dos governos falidos. São eufemismos para uma “transfer union”, um mecanismo de redistribuição de riqueza dos mais produtivos para os mais ineficientes. O plano da moeda comum contou com o empolgado apoio de Jacques Delors, com longa carreira nas políticas socialistas francesas. Parece que seus ideais estão finalmente se tornando realidade.
O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, teoricamente impediria posturas muito irresponsáveis dos membros do euro. O déficit fiscal não poderia superar 3% do PIB, e a dívida pública ficaria limitada a 60% do PIB. Estes limites foram ultrapassados com margem folgada, mas não houve punição alguma. Ao contrário, a pressão crescente é para que o BCE atue como salvador, usando sua varinha mágica inflacionária. A Alemanha foi seduzida a este acordo com o discurso ameaçador de que o euro era necessário para preservar a paz na região. O sentimento de culpa após o nazismo fez o resto.
Em suma, o euro é um projeto político, que visa à centralização do poder na região. Os alemães de classe média poderão ser obrigados a sustentar a farra dos gregos, italianos, espanhóis e até franceses mais irresponsáveis. Essa é justamente a visão socialista de mundo. E ela nunca deu certo.