
Idéias de um livre pensador sem medo da polêmica ou da patrulha dos "politicamente corretos".
quarta-feira, abril 29, 2009
segunda-feira, abril 27, 2009
A Bomba-Relógio do Welfare State

Rodrigo Constantino
Como se não bastassem todas as mazelas que a economia americana enfrenta – déficit fiscal crescente, dívida federal acima de US$ 10 trilhões, recessão, etc. – há uma verdadeira bomba-relógio armada, que começa a pressionar cada vez mais as finanças públicas. Trata-se do aparato de welfare state criado no passado, basicamente os gastos com a Previdência Social, o Medicare e o Medicaid. Durante a crise atual, essa questão acabou em segundo plano. Mas isso não quer dizer que sua importância seja secundária. Ao contrário, isso apenas joga mais lenha na fogueira, conforme mostra um relatório do 13D Research.
Os gastos com os três grandes programas sociais já representam 40% do orçamento de US$ 3 trilhões do governo federal. Com a aposentadoria iminente dos quase 80 milhões de “baby boomers”, esses programas podem praticamente dobrar em relação ao PIB até 2030. A demografia começa a trabalhar contra as benesses do welfare state americano. Em 1935, quando a Previdência Social foi criada, apenas 6% dos americanos tinham 65 anos ou mais. Atualmente, esse percentual dobrou, e até 2030 deverá ter triplicado. Adding insult to injury, o povo não só está mais velho, como vive bem mais hoje em dia. A expectativa de vida vem aumentando rapidamente, o que é uma grande conquista do capitalismo, mas que custa caro aos programas sociais.
Em 1945, para cada beneficiário da Previdência Social, existiam mais de 40 trabalhadores pagando a conta. Em 2002, eram apenas pouco mais de três trabalhadores para cada aposentado. Em 2030, pelas tendências atuais, serão pouco mais de dois trabalhadores para cada beneficiário. Como o sistema de Previdência Social não passa de um grande esquema Ponzi de pirâmide, onde os novos adeptos bancam os aposentados, a demografia é crucial para manter o programa funcionando. A conta está ficando cada vez mais pesada para os ombros dos trabalhadores.
O Congressional Budget Office (CBO) espera que o gasto com os benefícios da Previdência Social ultrapasse os impostos sobre salários já em 2009. Desde 1984, será a primeira vez que isso acontece. Na última vez que isso aconteceu, em 1983, o Congresso aprovou uma série de reformas, incluindo o aumento nos impostos sobre os salários e na idade de aposentadoria. Graças a estas medidas, foi possível ganhar tempo e operar com superávit durante esses anos. Mas a hora de novos ajustes dolorosos voltou. Medidas cada vez mais drásticas serão necessárias para fechar a conta. O CBO esperava um superávit de US$ 80 bilhões para este ano, e as novas estimativas apontam apenas US$ 16 bilhões de saldo positivo, contando com o imposto de renda. Para o ano que vem, a expectativa é de apenas US$ 3 bilhões. O governo ainda aumentou os benefícios em quase 6% para compensar o aumento no custo de vida. Foi o maior aumento desde 1982.
Em 1968, o presidente Johnson incluiu a Previdência Social e outros gastos num orçamento unificado. Com isso, os ativos da Previdência deixaram de ser separados dos demais gastos do governo. A arrecadação previdenciária, então bastante superavitária, passou a representar uma montanha de dinheiro que o governo poderia utilizar para financiar outros gastos. De fato, desde 1986, os saldos positivos da Previdência Social subsidiaram o resto dos gastos do governo em mais de US$ 2,3 trilhões. Assim, o déficit fiscal do governo podia ser reportado abaixo do real, pois o buraco era tampado pelo saldo previdenciário. Muito em breve, isso vai mudar. Em vez de a Previdência Social subsidiar o restante do orçamento, o restante do orçamento terá que cobrir o rombo da Previdência.
No epicentro do problema, sempre esteve a própria natureza do programa. Os políticos não gostam de adotar medidas impopulares, pois dependem dos votos para continuar no poder. E como o rombo previdenciário sempre foi algo distante, cada governo ia jogando a conta para o próximo. Apenas quando a situação parece realmente insustentável alguma medida mais dura é tomada. Estamos num desses momentos. E justamente no meio de uma crise onde os gastos do governo americano já parecem explosivos. Até quando será possível o governo americano conseguir financiamento para tantos gastos sem puxar a taxa de juros para cima, afetando negativamente a economia? Se a opção for pela saída mais fácil – imprimir dinheiro através do Fed – qual será o destino do dólar? São tempos difíceis, sem dúvida. E há ainda uma bomba-relógio criada pelo welfare state, fazendo tic tac tic tac...
quinta-feira, abril 23, 2009
O Direito de Formar Cartéis
Rodrigo Constantino
“Uma ação de cartel, se ela for voluntária, não pode agredir a liberdade de competição e, se ela se provar rentável, ela beneficia em vez de prejudicar os consumidores.” (Rothbard)
O princípio básico de uma economia de livre mercado é que todas as trocas serão voluntárias, i.e., cada agente poderá decidir o que comprar ou vender livre de impedimentos como ameaça ou uso de violência. Com esta premissa em mente, o economista Rothbard desenvolve em Man, Economy and State uma defesa do direito de se criar cartéis. Caso os acordos de cooperação entre firmas sejam totalmente voluntários, este tipo de organização não estaria ferindo o princípio de livre mercado. Rothbard argumenta ainda que dificilmente esses cartéis sobrevivem se forem ineficientes do ponto de vista da satisfação da demanda dos consumidores.
Conforme ele explica, se os consumidores realmente se opusessem às ações de cartel, considerando que as trocas resultantes delas fossem prejudiciais, eles poderiam boicotar os cartéis de forma a tornar a curva de demanda de seus produtos elástica, ou seja, sensível aos preços de mercado. Ninguém é obrigado a consumir determinados produtos, e há um preço em que certamente é preferível abdicar do consumo ou procurar substitutos. Claro que os consumidores sempre preferem um preço menor. Mas Rothbard pergunta: Isso quer dizer que o preço ideal é zero, ou perto de zero, para todos os bens, porque isso representaria o mais elevado grau de sacrifício dos produtores aos desejos dos consumidores? Enquanto consumidor, todos preferem sempre o menor preço para suas compras; e enquanto produtor, todos preferem o maior preço para suas vendas. Existem apenas duas formas de resolver esse dilema: através do livre mercado, onde os preços são determinados livremente pelos indivíduos; ou pela intervenção violenta no mercado, ignorando os direitos de propriedade.
Sendo o cartel uma formação voluntária, não há porque classificá-lo, portanto, como imoral. Tampouco é possível afirmar a priori que seu resultado será prejudicial aos consumidores. Mesmo no caso extremo onde há restrição de oferta, quando um cartel chega a queimar parte de seu estoque para elevar os preços, pode-se argumentar que os consumidores permanecem livres para evitar tal ato, bastando para tanto comprar o produto no preço ofertado. Se os consumidores realmente desejam evitar o ato, eles podem praticar a filantropia por conta própria, comprando o estoque e distribuindo. Se não o fazem, é porque julgam que seus recursos escassos possuem destino melhor, e continuam, portanto, mais satisfeitos mesmo com a queima do estoque. Aliás, a queima de estoque nesse caso não é tão diferente de uma indústria que mantém suas máquinas ociosas, deixando de produzir no total de sua capacidade.
Sempre que se fala em cartel supõe-se algum tipo de conspiração. Mas Rothbard afirma que existe, na verdade, uma co-operação para elevar a renda dos produtores. Sendo assim, não haveria uma diferença essencial entre um cartel e uma corporação comum ou uma parceria. Uma grande fusão, de fato, é apenas um cartel permanente. Por outro lado, um cartel que mantém por acordo voluntário a identidade separada de cada firma é sempre mais transitório. Em muitos casos, um cartel pode ser considerado uma tentativa na direção de uma fusão permanente.
Alguns criticam os cartéis com base no seu tamanho. Mas como Rothbard diz, não há meios precisos de se determinar um tamanho ótimo de uma firma em qualquer indústria. A função dos empresários será justamente projetar a demanda futura e os custos de produção, e aqueles mais bem-sucedidos irão permanecer no mercado. O prejuízo será o alerta de que o empresário está falhando em sua tarefa de atender a demanda dos consumidores de forma eficiente. Portanto, somente o livre mercado poderá responder qual o tamanho ótimo de uma firma, através do mecanismo de tentativa e erro. Nenhum economista pode calcular ex ante qual seria o tamanho adequado de uma empresa de forma a maximizar a satisfação dos consumidores. Somente estes podem dizer isso através de suas livres escolhas. Logo, não há garantia alguma de que um cartel, ou um grupo de empresas cooperando, será menos eficiente que inúmeras pequenas empresas isoladas. O único jeito de descobrir isso é permitindo o livre funcionamento do mercado, incluindo a liberdade de se unir para cooperar com outras firmas.
A experiência, contudo, mostra que o cartel é uma forma inerentemente instável de operação. Se a união de um grupo de empresas se mostrar eficiente no atendimento da demanda, ou seja, rentável para cada membro do cartel, então ele irá naturalmente levar a uma fusão. Por outro lado, se a ação conjunta se mostrar um fracasso, ou seja, apresentar prejuízo para seus membros, as firmas insatisfeitas irão abandonar o cartel. As cotas definidas dentro do cartel serão sempre arbitrárias, e sempre poderão ser questionadas por seus membros. Os mais eficientes dentro do cartel terão um forte incentivo a abandonar o grupo, pois estão sendo limitados pela ineficiência alheia. Eles poderiam estar ganhando fatia de mercado caso abandonassem o cartel. E há ainda outra força ameaçando constantemente o cartel, que vem de fora. Se o cartel consegue retornos “artificialmente” elevados por conta da restrição da produção, nada impede que produtores de fora entrem no mercado e tirem vantagem desses lucros extraordinários.
Alguém pode perguntar: O que impede então a formação de Um Grande Cartel? Na verdade, o próprio mercado impõe um limite ao tamanho da firma, por causa do problema de cálculo econômico. Para calcular os lucros e prejuízos de cada setor, a firma deve poder comparar suas operações internas com os mercados externos para cada dos vários fatores intermediários de produção. Quando esses mercados somem, sendo absorvidos dentro da empresa, o cálculo econômico desaparece, e não há como alocar racionalmente os recursos escassos para as áreas específicas. O Grande Cartel não teria como evitar grandes prejuízos. Por isso mesmo essa nunca seria uma escolha voluntária no livre mercado. O socialismo, no fundo, seria equivalente a este Grande Cartel, organizado e controlado compulsoriamente pelo Estado. O fato de que Um Grande Cartel nunca foi formado voluntariamente e que ele precisa de coerção do Estado para ser formado demonstra que ele não poderia ser o método mais eficiente para satisfazer as demandas dos consumidores.
Por fim, o fato de que o termo cartel desperta tanta reação negativa pode ter explicação em sua origem, já que no passado um monopólio ou cartel era garantido como um privilégio especial do Estado, reservando uma determinada área de produção para um grupo particular. A entrada de novos concorrentes era proibida pelo governo. No caso brasileiro, a Petrobrás foi um exemplo claro de um monopólio possível apenas pelo decreto estatal, e não por uma maior eficiência da empresa vis-à-vis as concorrentes. O mais famoso cartel do mundo, a OPEP, segue o mesmo caso. Ele é garantido pelos governos autoritários dos países produtores de petróleo, basicamente do Oriente Médio. Mas este tipo de cartel não tem nenhuma relação com o livre mercado. Pelo contrário: ele é fruto justamente da intervenção no mercado.
PS: Existem inúmeros exemplos de cartéis no mercado, e pode-se notar que os problemas surgem normalmente quando o governo impede a livre concorrência. A Ordem dos Advogados do Brasil é um caso típico de cartel, e não haveria problema algum nisso, caso houvesse liberdade no mercado. O perigo aparece quando o governo garante o monopólio legal da OAB, impedindo o funcionamento do livre mercado. Os sindicatos trabalhistas são também cartéis onde os trabalhadores se unem para garantir um poder de barganha maior frente ao empregador. O problema está na coerção que tais sindicatos fazem contra os não-membros, que aceitariam trabalhar com menos regalias. Quando tais sindicatos impedem através da ameaça violenta a livre competição, eles estão prejudicando os trabalhadores de forma geral. Novamente, a solução justa e eficiente está no livre mercado.
sábado, abril 18, 2009
A Crise Segundo a Escola Austríaca
Rodrigo Constantino
“Toda manipulação monetária do mundo não pode desafiar os limites impostos sem misericórdia pela realidade.” (Thomas Woods Jr.)
Diante da grande crise que assola o mundo no momento, todos preferem culpar o capitalismo e o livre mercado, em vez de mergulhar realmente a fundo nas raízes do problema. À contramão desta tendência majoritária, Thomas Woods Jr., do Mises Institute, escreveu um excelente livro onde demonstra que o governo tem suas digitais em todas as cenas do crime. Em Meltdown, Woods resume a teoria austríaca de ciclos econômicos, e explica porque o colapso dos mercados foi causado pelo governo, não pelo livre mercado. Ele mostra ainda que as reações do governo não só erram o alvo e deixam de resolver os problemas, como acabam agravando a situação.
As mesmas pessoas que ajudaram a criar a bagunça atual estão posando hoje como especialistas capazes de mostrar os caminhos da salvação. Os membros do governo, incluindo os economistas do Federal Reserve, apontam o dedo para os abusos da iniciativa privada como se não fossem os principais causadores desses abusos. Culpar a “ganância” dos investidores é como culpar a gravidade pela queda de um avião. Ignora-se que a tal “ganância” sempre esteve presente e que, portanto, a explicação para a bolha deve estar em outro lugar. Este lugar é o próprio governo, principalmente seu braço “independente”, o banco central com monopólio na emissão de moeda.
Tom Woods aponta as várias formas de intervenção estatal na economia, que sem dúvida ajudaram a ampliar os problemas. Como exemplo, ele cita a Fannie Mae e Freddie Mac, as semi-estatais financiadoras de hipotecas, que contavam com inúmeros privilégios do governo, assim como uma forte pressão para que estendessem o crédito para as classes mais baixas. Os governos, tanto Democrata como Republicano, sempre incentivaram de forma populista a “casa própria”, ignorando que nem todos estão em condições econômicas de arcar com uma hipoteca. Diversas medidas estatais buscaram estimular as hipotecas mais arriscadas, no epicentro da crise. Mas Woods lembra que todas essas intervenções governamentais – que não foram poucas – não chegam perto do poder de estrago que tem o Fed. O principal alvo do ataque de Woods é o banco central americano.
O Federal Reserve System foi criado por um ato do Congresso em 1913, seu presidente é escolhido pelo governo, e conta com privilégios de monopólio sobre a moeda. Em suma, o Fed está calcado em princípios diametralmente opostos àqueles do livre mercado. Ele é um agente de planejamento central econômico, só que em vez de planejar a produção de bens, como fazia a Gosplan comunista, ele planeja a taxa de juros, com conseqüências que reverberam por toda a economia. Segundo Woods, esta manipulação das taxas de juros, mantidas artificialmente baixas por tempo demais, foi justamente a mais importante causa da crise atual. “O Fed é o elefante na sala que todos fingem não notar”, ele diz.
Após a crise da Internet, já ela uma bolha instigada pelo Fed, e o ataque de 11 de Setembro, Alan Greenspan, o então presidente do Fed, decidiu usar suas ferramentas para estimular a economia e evitar os necessários ajustes. A taxa de juros determinada pelo Fed foi reduzida para 1% ao ano, e assim permaneceu por um ano inteiro. A oferta de dinheiro foi aumentada drasticamente durante estes anos, e mais dólares foram criados entre 2000 e 2007 do que em todo resto da história da república americana. O dinheiro barato atrai muitas pessoas para a especulação financeira, incluindo leigos que não entendem do assunto. O sonho de ficar rico rapidamente conquista muita gente. Em uma atmosfera de preços em alta e prosperidade geral, com taxas de juros artificialmente baixas, fica complicado separar o joio do trigo, saber quais projetos são sustentáveis e quais não passam de filhotes da bolha.
Após o estouro da bolha do Nasdaq, as atenções se voltaram para o setor de casas. Alguns tentam explicar os ciclos com base em “manias”, mas estas podem apenas escolher o ativo da moda, e não oferecer os recursos artificiais que bancam a festa, i.e., o crédito criado pelos bancos com o estímulo do Fed. A nova mania foi então especular com casas. Muitos começaram a acreditar que havia uma única direção para seus preços, e que o ganho era líquido e certo. Eles usavam suas casas como caixas automáticos para obter crédito e gastar. Eles compravam casas sem colocar um centavo de capital próprio, contando apenas com a elevação contínua dos preços. Eles contavam com o incentivo do governo, tanto em medidas diretas como no grande estímulo monetário do Fed.
O que Tom Woods questiona é porque ainda levam tão a sério as previsões dos mais poderosos governantes, se eles foram totalmente incapazes de antecipar a crise que ajudaram a criar. Ben Bernanke, o atual presidente do Fed, disse em maio de 2007 que não esperava significante contágio do mercado de hipoteca subprime para o resto da economia ou o sistema financeiro. É para este homem que vamos entregar o poder absoluto de controlar a emissão de moedas? O então Secretário do Tesouro, Henry Paulson, falou em março de 2007 que a economia global estava mais forte que nunca, e que as instituições financeiras eram sólidas. Um ano depois, em março de 2008, ele acrescentou que os bancos estavam muito bem, e que permaneceriam sólidos por muitos e muitos anos. Devemos confiar nesses profetas?
Infelizmente, no setor público os erros costumam ser recompensados com mais poder e verbas, ao contrário do que ocorre no livre mercado. De fato, após previsões tão absurdas e medidas que agravaram a crise, Paulon e Bernanke demandaram mais recursos e poderes, sendo prontamente atendidos. Pacotes de trilhões de dólares foram aprovados às pressas, enquanto os principais governantes davam demonstrações claras de que não tinham a menor idéia do que fazer de fato para resolver os problemas. O Secretário Paulson mudou publicamente de idéia algumas vezes, e demonstrou enorme arbitrariedade em suas decisões, aumentando as incertezas do mercado num delicado momento de crise. A confiança depende de certa estabilidade e previsibilidade, justamente o que o governo não mostrou.
Se antes os bancos eram acusados de emprestar muito agressivamente, agora eram acusados de muito conservadorismo. Se os americanos eram acusados de consumismo irresponsável, agora demandavam mais gastos deles. E o próprio governo, que tanto pregou a luta por casas mais acessíveis, estava agora fazendo de tudo para evitar a queda nos preços das casas. Para onde foi a meta de casas acessíveis? Woods questiona se algum traço de pensamento racional ainda pode ser encontrado em meio a tanta insanidade.
Em uma economia dinâmica de livre mercado, com um futuro sempre incerto, empresários irão errar em suas apostas com freqüência. Mas quando todos erram ao mesmo tempo, alguma outra explicação deve existir. Eis onde entra a teoria austríaca de ciclos econômicos, exposta principalmente por Mises e Hayek, que aponta para a interferência do banco central nas taxas de juros como principal explicação para os ciclos de expansão acelerada e queda abrupta na economia. A taxa de juros “natural”, ou de equilíbrio, coordena a produção no decorrer do tempo, dependendo da poupança real existente e da demanda por novos investimentos. Se o Fed manipula esta taxa, ele acaba gerando uma ruptura na coordenação econômica em grande escala. Investimentos que seriam normalmente desvantajosos acabam parecendo rentáveis. Os agentes econômicos são levados a crer que agora é um bom momento para se investir no longo prazo.
Muitos recursos são drenados para investimentos ruins, principalmente em produtos intermediários, como bens de capital. Estes recursos não são provenientes de uma poupança efetiva, mas sim do crédito criado por bancos que atuam sob o regime de reservas fracionárias, podendo multiplicar o crédito em relação aos depósitos que recebem. Com o passar do tempo, as empresas vão descobrir que faltam recursos para terminar seus projetos, pois os fatores complementares de produção encontram-se escassos. As empresas precisam tomar mais dinheiro emprestado para finalizar seus investimentos. Alguma hora, o castelo de cartas irá ruir.
Mises faz uma analogia entre uma economia sob a influência de taxas de juros artificialmente baixas e um construtor que erroneamente acredita que tem mais recursos, como tijolos, do que realmente tem. Ele irá construir uma casa com proporções diferentes do que se soubesse a verdadeira oferta disponível de tijolos. Em algum momento, ele irá descobrir que faltam tijolos para ele completar sua casa. Quanto mais rápido ele descobrir isso, melhor, pois ele poderá fazer os ajustes necessários com menor dano. Se ele descobrir muito tempo depois, ele poderá ser forçado a destruir quase toda a casa, ou simplesmente abandoná-la inacabada. O resultado de uma política frouxa de juros, que joga a taxa abaixo de seu patamar “natural”, acaba sendo similar para a economia como um todo. Uma série de “malinvestiments” irá desviar recursos escassos para destinos indesejáveis. A farsa não pode durar para sempre, e logo ficará claro que o rei está nu.
Como disse Hayek, combater essa depressão inevitável com mais expansão forçada de crédito é tentar curar o mal pelos mesmos meios que o criaram. No entanto, esta é justamente a receita keynesiana, tão em moda apesar de seus fracassos no passado. A recessão é a fase necessária de ajuste, onde a realidade precisa ser enfrentada. A estrutura de produção precisa ser refeita com base nos dados reais e sustentáveis, ofuscados pela euforia artificialmente criada pelo Fed. É como um bêbado que precisa enfrentar a ressaca para ficar sóbrio. Os keynesianos querem oferecer mais e mais bebida, para “curar” o porre mantendo o indivíduo bêbado. Claro que esta política é insustentável. Ela não apenas posterga o ajuste necessário, como agrava a situação.
As soluções “mágicas” apresentadas pelos keynesianos passam sempre por dar mais veneno para a vítima. Embriagados com estatísticas de dados agregados, esses economistas parecem ter perdido qualquer contato com o bom senso. Eles acham que o governo pode gastar do nada para sair da crise, mantendo a produção nominal do país. Eles parecem confundir papel moeda com riqueza. Tirar da economia como um todo para gastar em setores específicos, eis a fórmula mágica para criar riqueza! Robert Higgs comparou este plano com aquele onde alguém tira água da parte mais funda da piscina e coloca na parte rasa, esperando que o nível geral da água vá subir. Essa foi a reação tanto na Grande Depressão, cujo New Deal postergou a recuperação, como na crise do Japão, que ficou estagnado por duas décadas. Impedir os ajustes necessários e injetar mais recursos na economia não resolve nada, muito pelo contrário. É o que explica a teoria austríaca, e o que a história ilustra.
Mas muitos mitos acabam prevalecendo, e a verdade permanece ignorada pelo público. A versão “oficial” da história repete que a Grande Depressão foi causada pelo livre mercado e que o New Deal salvou o capitalismo de si próprio. O Prêmio Nobel Paul Krugman, um dos maiores defensores do intervencionismo como solução para a crise, chegou a afirmar que a Segunda Guerra Mundial salvou a economia americana, oferecendo o estímulo fiscal necessário para as necessidades econômicas. Esta falácia absurda continua sendo disseminada entre os leigos, como se guerra realmente pudesse criar prosperidade. Se gastos militares criassem riqueza de fato, então os Estados Unidos e o Japão poderiam ambos construir uma enorme e poderosa frota naval, encontrar-se no Pacífico, e afundar cada um os navios do outro. Então poderiam celebrar como estavam mais ricos desviando recursos escassos, como trabalho e aço, tudo isso para terminar no fundo do oceano. Como afirma Woods de forma ácida, qualquer um que acredita em um absurdo desses, de que guerra traz prosperidade, pertence a um sanatório, ou então ao editorial do New York Times. Foi Mises quem acertou novamente, ao afirmar que a prosperidade da guerra é como a prosperidade que um terremoto ou uma praga trazem.
De forma geral, para uma sociedade consumir, ela antes deve produzir. É justamente essa realidade inexorável que incomoda tantos políticos e economistas. Eles gostariam de burlar esta lei natural, e para tanto contam com os incríveis poderes do Fed. Mas, como diz a frase da epígrafe, nenhuma manipulação pode desafiar a realidade por muito tempo. A bolha artificial precisa estourar cedo ou tarde. Melhor que seja cedo, pois causa menos estrago. E quando o governo tenta solucionar os problemas mirando em seus resultados, em vez de focar nas causas, ele apenas joga mais lenha na fogueira. Em vez disso, como sugere Woods, o governo deveria permitir os ajustes necessários. Ele deveria deixar as empresas quebrarem, para que o capital possa o mais rápido possível ser realocado para setores e empresas mais eficientes. Recompensar prejuízos com pacotes de resgate apenas incentiva mais erros, criando um enorme moral hazard. Além disso, o governo deveria reduzir drasticamente seus gastos, em vez de aumentá-los. Desta forma, os recursos retornariam para as atividades criadoras de riqueza no setor privado. Por fim, o Fed deveria ser abolido. Muitos condenam o livre mercado pela crise, mas Woods pergunta: o que há de livre mercado na manipulação pelo governo do item mais importante na economia? Capital, afinal de contas, costuma ser um ingrediente bastante relevante no capitalismo.
Quem defende o livre mercado não pode defender o monopólio do governo justamente na emissão de moeda e controle da taxa de juros. Se dinheiro é o sangue da economia, que leva recursos para os destinos mais produtivos, como defender o planejamento central na questão monetária? Tom Woods conclui que os defensores do livre mercado não têm mais escolha: eles precisam considerar a Escola Austríaca, que oferece a única posição intelectualmente coerente de livre mercado diante da presente crise.
sexta-feira, abril 17, 2009
Lula no South Park

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
O presidente Lula, mais conhecido como “o cara”, fez uma ponta especial no novo episódio do South Park, desenho irreverente com enorme audiência nos Estados Unidos. O South Park é conhecido por seu humor negro que não poupa alvos, desde a esquerda festiva até os conservadores religiosos. Em entrevista para a Reason Magazine, os criadores do desenho, Matt Stone e Trey Parker, reconheceram ser “libertários”. No novo episódio “Pinewood Derby”, o alvo principal são os governantes mais importantes do mundo: os membros do G-20.
Um alienígena aparece na Terra alegando ser um fugitivo intergaláctico, cheio de dinheiro roubado. Ele acaba sendo morto, e o dinheiro é distribuído entre os líderes dos governos, que mentem para a polícia espacial. O governo mexicano começa a gastar muito, chamando a atenção da polícia. O governo da Finlândia resolve revelar tudo, e o país acaba sumindo do mapa, alvo de ataques nucleares do mundo todo. Uma enorme rede de mentiras vai envolvendo o mundo todo, e o fim – manter o dinheiro roubado – acaba justificando quaisquer meios.
Ocorre que tudo não passava de um teste para verificar se os terráqueos estavam aptos a participar de uma federação intergaláctica. Naturalmente, falharam. Ainda tiveram que escutar a lição básica de economia do policial alienígena, pois se sentiram mais ricos apenas por colocar a mão numa montanha de papel sem valor, dinheiro espacial sem lastro concreto algum. Essa lição, por sinal, costuma ser bastante ignorada por muitos economistas, incluindo alguns com Prêmio Nobel, especialmente em tempos de crise como esse.
Em resumo, eis a estréia de Lula no desenho mais famoso americano: faz uma ponta insignificante; quando aparece é para mentir sobre o destino do dinheiro, alegando não saber de nada; e ainda acha que o mundo fica realmente mais rico apenas por ter acesso a uma pilha de papel sem valor.
terça-feira, abril 14, 2009
As Barreiras do Sindicalismo
Rodrigo Constantino
“O poder sindical é essencialmente o poder de privar alguém de trabalhar aos salários que estaria disposto a aceitar.” (Hayek)
A economia de mercado pode ser descrita também como a democracia dos consumidores. Os empreendedores e capitalistas não são autocratas que determinam o que deve ser produzido independente da demanda. Eles estão sujeitos à soberania dos consumidores. São esses que, em última instância, decidem quais produtos serão os vencedores no mercado. Os sindicalistas gostariam de mudar isso, transformando tudo numa “democracia dos produtores”. A idéia é falaciosa, como argumenta Mises em Human Action, já que o propósito final da produção é o sempre o consumo.
O que mais incomoda os sindicalistas no sistema capitalista é sua suposta frieza na busca pelo lucro. Mas o que eles ignoram é que esta busca é justamente o que garante a supremacia dos consumidores. Sob a competição do livre mercado, os empresários são forçados a melhorar suas técnicas e oferecer os melhores produtos pelos menores preços. Por isso eles são levados a pagar somente o salário de mercado, ou seja, aquele decorrente da produtividade do trabalhador, sujeito às leis da oferta e demanda. Se um trabalhador pede aumento porque sua mulher teve mais um filho, e seu empregador nega alegando que o nascimento do filho em nada acrescenta à produtividade da empresa, ele está agindo nos melhores interesses de seus consumidores.
Afinal, esses consumidores não estão dispostos a pagar mais pelo produto porque o trabalhador aumentou sua família. A ingenuidade dos sindicalistas se manifesta no fato de que eles mesmos nunca aceitariam o mesmo argumento na compra dos produtos que eles consomem. O sindicalista enquanto consumidor não questiona nas lojas se o bem foi produzido por empregados com poucos ou muito filhos. Ele quer o melhor produto pelo menor preço. E quando ele exerce essa escolha, ele próprio está definindo como o empregador deve agir, sempre mantendo o menor custo possível, incluindo um salário de acordo apenas com o valor agregado pelo trabalhador.
Uma característica presente na mentalidade sindicalista é o foco no curto prazo. Para os sindicalistas, a empresa tem um lucro que pode ser dividido melhor entre seus empregados. A função de empresário é muitas vezes vista como sem valor, uma “exploração” que permite a apropriação indevida da “mais-valia”. O sindicalista ignora completamente o fato de que as condições de mercado estão sempre mudando, e que decisões fundamentais, que podem selar o destino da empresa, precisam ser tomadas diariamente. A visão sindicalista é estacionária. Portanto, o sindicalismo ignora os problemas essenciais do empreendedorismo, como a alocação de capital entre os diferentes setores, a expansão de indústrias já existentes, o desenvolvimento tecnológico, etc. Tudo que existe é tomado como certo pelos sindicalistas, que desejam apenas uma divisão diferente daquilo já existente. Como Mises conclui, não seria injusto chamar o sindicalismo de uma filosofia econômica de pessoas com visão limitada.
A essência das políticas sindicais é sempre garantir privilégios para um grupo minoritário à custa da imensa maioria. O resultado invariavelmente será reduzir o bem-estar geral. Os sindicatos tentam criar barreiras contra a competição entre trabalhadores, garantindo privilégios para aqueles já empregados. Quando esses obstáculos são erguidos (como salário mínimo, necessidade de diplomas, restrições de horas trabalhadas e inúmeras outras regalias), o que os sindicatos fazem é dificultar a entrada de novos trabalhadores, que poderiam aceitar condições menos favorecidas. O resultado prático disso é maior desemprego na economia, assim como preços mais altos para os consumidores.
Ninguém precisa defender as idéias sindicalistas, muitas vezes impregnadas de violência, para se sensibilizar com as condições de muitos trabalhadores pobres. Na verdade, pode ser justamente o contrário. A melhor garantia que esses trabalhadores têm para mudar de vida está no sistema capitalista de livre mercado. Com o foco nos consumidores, os empresários terão que investir em tecnologias que aumentam a produtividade do trabalho. Os salários terão aumento relativo aos preços dos produtos finais, lembrando que todos são consumidores. Os empresários no capitalismo desejam justamente atender as demandas das massas, pois somente assim terão expressivos ganhos de escala. Os produtos de luxo serão sempre mais limitados, voltados para um público menor que aceita pagar bem mais caro.
Por isso os trabalhadores de países capitalistas desfrutam de condições bem melhores que aquelas encontradas em países socialistas. Não adianta achar que imposições legais vão melhorar a vida dos trabalhadores. A solução para isso não está no decreto estatal, mas sim no próprio progresso capitalista. Foi ele que permitiu o acesso dos trabalhadores a diversos produtos que aumentam o conforto de maneira impensável mesmo para aristocratas do passado.
segunda-feira, abril 13, 2009
O Caso Contra o Antitruste
Rodrigo Constantino
“As leis antitrustes foram criadas precisamente para serem usadas pelos concorrentes menores para arrasar concorrentes mais eficientes.” (Domenick Armentano)
Muitas pessoas assumem que o livre mercado leva naturalmente à concentração de poder em cartéis ou monopólios, e que cabe ao governo proteger os consumidores desse risco. Mas, na verdade, as medidas antitrustes do governo costumam prejudicar justamente os consumidores, dificultando a vida das empresas mais eficientes. É o que mostra Dominick Armentano em Antitrust: The Case for Repeal, do Mises Institute. Logo no prefácio do livro, o autor deixa claro que sua posição sobre o tema nunca foi ambígua: todas as leis antitrustes devem ser rejeitadas, e todo o aparato antitruste não pode ser reformado, devendo ser simplesmente abolido.
Armentano apresenta tanto argumentos lógicos como estudos de caso para sustentar seu ponto de vista. Um caso mais recente citado pelo autor é a acusação de monopólio envolvendo a Microsoft. O governo acusou a empresa de abusar de seu quase-monopólio no sistema operacional de computadores, para integrar seu browser numa “venda casada”. No entanto, a situação dominante da Microsoft era fruto de sua maior competitividade, sendo, portanto, legítima. Não existiam barreiras artificiais à entrada de novos concorrentes, e outras empresas ofereciam sistemas operacionais substitutos. Mas a Microsoft foi ganhando mercado, pois um sistema operacional mais padronizado era mais barato de ser produzido e distribuído, além de mais fácil de ser usado, o que favorecia os consumidores. As fabricantes de computador como Dell, Compaq e tantas outras eram livres para escolher o browser da Netscape. Mas, claramente, um sistema operacional com um navegador grátis já incluído era uma opção mais benéfica para os consumidores do que pagar um custo adicional para ter outro browser.
Quando as autoridades reclamaram da integração e do preço “predatório” da Microsoft, elas estavam condenando o processo competitivo de mercado, não qualquer monopolização. Robert Murphy, em Os Pecados do Capital, comenta sobre o caso da Microsoft, condenando a arbitrariedade da lei antitruste: “um juiz deve decidir se uma empresa pode ‘integrar’ dois produtos ou se deve vendê-los separadamente”. Murphy faz uma analogia com a Ford, mostrando como seria absurdo alguém questionar se a empresa deveria ter o poder de “integrar” o motor e os pneus de seus veículos ao vendê-los aos consumidores. Ele conclui: “Seria ridículo para uma concorrente reclamar que a Ford estava ‘vinculando’ de forma desleal seus pneus ao sucesso de seu motor, reduzindo, dessa forma, a concorrência no negócio de pneus”.
A competição é um processo dinâmico de descoberta e ajuste, sob condições de incerteza. Ela pode incluir tanto rivalidade entre empresas como cooperação. Dentro deste processo competitivo, a fatia de mercado de uma empresa é o resultado de sua eficiência. Um produtor pode “controlar” seu mercado somente se oferecer um produto melhor a um preço mais baixo, algo claramente vantajoso para os consumidores. O monopólio verdadeiro ocorre quando barreiras legais são criadas impedindo o acesso de novos concorrentes. Ou seja, o monopólio é um privilégio do governo, e não uma conseqüência do livre mercado. No capitalismo puro, uma empresa pode deter enorme fatia de um determinado mercado, mas apenas enquanto for a mais eficiente em atender a demanda. Historicamente, a regulação antitruste foi usada para atacar essas empresas mais eficientes, beneficiando empresas com custos mais elevados. Como isso pode favorecer os consumidores permanece um mistério!
A idéia por trás do modelo de “competição perfeita” dos livros-textos de economia ajuda a manter a crença na necessidade de políticas antitrustes para combater o tamanho excessivo de algumas empresas. Neste modelo, existem infinitas empresas oferecendo produtos homogêneos, e há informação perfeita também. Nada poderia estar mais longe da realidade. No mundo real, o problema econômico reside justamente em descobrir a demanda num processo dinâmico e incerto, com informação assimétrica. Algumas empresas podem ser mais bem sucedidas nesse processo, ganhando expressivas fatias de mercado. Uma empresa pode inclusive dominar quase todo o seu mercado específico, mas somente através de uma maior eficiência. O risco de rivais potenciais será constante, pois não existem barreiras legais à entrada de novos concorrentes. A empresa continuará “monopolista” somente enquanto for eficiente.
O caso da Alcoa é um bom exemplo disso. A empresa mantinha um grande domínio no mercado de seu principal produto, o lingote de alumínio. No entanto, essa posição era fruto de sua maior eficiência. A empresa foi acusada de “monopolização”, mas o preço do lingote havia caído de US$ 5 por libra em 1887, quando a Alcoa foi fundada, para US$ 0,22 por libra em 1937, ano em que foi processada. Que prática predatória de monopólio é esta que reduz em mais de 95% o preço final para o consumidor? Será que o consumidor precisa de regulação antitruste para ser “protegido” disso? O caso da Alcoa está longe de ser o único. A Standard Oil dominou 90% do mercado de refino de petróleo americano depois de 20 anos competindo no setor. Ela conseguiu esse domínio reduzindo o preço do querosene de 14 centavos para 2 centavos o litro. Pobres consumidores!
Um grave problema com as leis antitruste está na sua total arbitrariedade. São os preços mais baixos sempre predatórios? Quais custos são relevantes para determinar isso? Os custos médios? Os custos marginais? Os custos históricos? Os burocratas simplesmente não têm como saber se um preço é “predatório” ou não. A definição do preço é uma decisão estratégica para as empresas, e depende de muitos fatores diferentes. Permitir que o burocrata decida quando um preço é predatório significa delegar um poder arbitrário enorme a ele, ameaçando o livre mercado. Ora, uma empresa pode oferecer preços menores justamente por ser mais eficiente, ter ganhos de escala e atender melhor a demanda. Mas seu próprio sucesso será alvo de ataques. O governo irá condenar suas virtudes, não seus vícios. O consumidor sai perdendo.
O problema essencial da regulação antitruste está na pretensão de conhecimento dos burocratas do governo. O futuro é desconhecido, e as empresas tomam decisões com base nessa incerteza. Fusões e aquisições ocorrem com base em expectativas que podem não se concretizar. Mas o julgamento das autoridades do governo assume uma possibilidade de conhecimento que é inexistente. Além disso, como definir o que é o mercado relevante para medir o grau de concentração? Quais são os substitutos do produto? Qual o mercado relevante, por exemplo, para refrigerantes? Apenas refrigerantes, ou deve incluir cervejas, sucos, água e leite? Apenas produtos nacionais, ou deve incluir os importados? Como tais questões podem ser respondidas de forma objetiva?
Os burocratas não são clarividentes, e não desfrutam de nenhum mecanismo especial para avaliar tais pontos. Eles simplesmente não podem calcular o “custo social” e o “benefício social” de fusões e aquisições, pois esses custos e benefícios dependem das preferências subjetivas dos consumidores, e estas são desconhecidas. O processo dinâmico de mercado existe justamente para conhecê-las, por tentativa e erro, lembrando que elas mudam o tempo todo. Por isso mesmo o mercado deve permanecer livre, sem as intervenções governamentais.
Last but not least, há um importante argumento contra as leis antitruste, de cunho moral. Por sua própria natureza, tais leis interferem nos direitos de propriedade privada. Elas tentam regular trocas voluntárias privadas, e representam, portanto, uma violação do direito de propriedade. Adam Smith reconheceu que pessoas do mesmo setor raramente se encontram sem que a conversa acabe numa conspiração para aumentar preços. Mas mesmo diante de tal receio, ele entendeu que era impossível evitar tais encontros sem agredir a liberdade e a justiça. E concluiu que um sistema natural de livre competição ainda era o mecanismo mais eficiente para combater esses riscos.
Tanto do ponto de vista da eficiência, como do prisma moral, as leis antitruste merecem severas críticas. Não é fácil combatê-las, pois a mentalidade de que o mercado, se deixado em paz, leva ao monopólio está enraizada nas pessoas. Além disso, os benefícios com o fim dessas leis são difusos, enquanto as perdas são concentradas: os próprios burocratas têm total interesse em manter este aparato antitruste. Mas nada disso muda o fato essencial nessa questão: a regulação antitruste tem servido para impedir que o livre mercado possa premiar os mais eficientes. Essa intervenção, invariavelmente, produz um resultado pior para os próprios consumidores que deveriam ser protegidos.
quinta-feira, abril 09, 2009
Onde há fumaça, há governo!

Rodrigo Constantino, em Globo.com
Defender o direito individual de fumar é cada vez mais algo "politicamente incorreto". Tamanho é o viés de encarar o Estado como um pai de filhos irresponsáveis, mesmo que paradoxalmente sejam esses irresponsáveis quem escolhe o governante, que os que buscam a liberdade individual limitada por poucas regras básicas são animais em extinção.
O "senso comum" migrou para uma visão ingênua de que clarividentes, iluminados e bem intencionados burocratas irão sempre lutar pelos "interesses coletivos", seja lá o que se entende por algo tão abstrato e subjetivo. E a prática dessa tolice é a concentração de poderes nas mãos de poucos políticos, asfixiando a liberdade alheia e tratando cidadãos como meros escravos.
Ora, nenhum indivíduo deveria obedecer burocratas se suas ações dizem respeito somente a ele. A vontade da maioria tampouco é argumento para a limitação da liberdade individual, já que democracia não é ditadura da maioria. Se um sujeito resolve que beber óleo é desejável, ninguém tem nada com isso. Eis uma atitude que não interfere na liberdade dos outros.
Agora, concordo que liberdade só pode andar junto de responsabilidade. Ou seja, os outros não são obrigados a assumir as consequências de tal atitude. Mais objetivamente falando: meu trabalho não deve sustentar os cuidados de saúde de um irresponsável. As pessoas devem ser livres para cometer suas besteiras, mas que paguem por elas sozinhas.
Dito isso, o ato de fumar é individual, afetando somente o fumante. Todos devem ser livres para escolher, contanto que assumam as consequências disso. Claro, existe muito alarde quanto aos riscos do "fumante passivo". Mesmo que sem fortes evidências de que uma pessoa exposta em local público à fumaça do cigarro aumente muito as chances de câncer, dado que a ingerência de fumaça por outras fontes, tais como carros e ônibus, são maiores, fica fácil resolver essa questão. Em locais privados, seus proprietários determinam se é ou não permitido o fumo. O governo não tem nada com isso. O dono do estabelecimento decide, e o público escolhe onde quer ir. Ninguém entra num restaurante com uma arma apontadada para a cabeça. Entra por livre e espontânea vontade. Que escolham, portanto, entre locais onde o fumo é liberado e onde é vetado. Livre escolha, algo que causa arrepios nos intervencionistas.
Mas isso não ocorre, e com essa mentalidade de Estado paternalista presente no mundo, o governo vai interferindo cada vez mais em algo que não deveria ser de sua esfera de atuação. Veta propaganda televisiva, exige fotos assustadoras na embalagem, proibe o fumo em locais privados e cobra impostos absurdos. Os dois primeiros pontos são até compreensíveis, já que visam à informação do público eventualmente desavisado, ou sedução de crianças incapazes de escolha racional. O terceiro ponto foi tratado acima, demonstrando ser um abuso o Estado impedir uma escolha livre entre proprietário e cliente. O último ponto, dos impostos, merece um aprofundamento maior.
O resultado desse imposto gigantesco é a criação de um mercado ilegal enorme, já que a demanda não some com canetada de governo. O mercado de contrabando, somado ao de produtores informais que fogem de impostos, já passa de 30% do total. As multinacionais pagam seus impostos, enquanto as locais montam esquemas de liminares para evasão fiscal. Somado a isso temos a incompetência da Polícia Federal em evitar a entrada dos cigarros contrabandeados. E, tudo jogado no liquidificador, o resultado é uma arrecadação menor para os cofres públicos, enquanto o "povão" fuma qualquer porcaria que encontra, pela sensibilidade ao preço.
Fossem os impostos menores, a competitividade das marcas ilegais seria menor, e o volume vendido pelas multinacionais que recolhem impostos seria maior, sem aumentar o volume total de cigarros vendidos. O governo iria arrecadar mais, e a ilegalidade iria diminuir, como foi o caso do álcool hidratado em SP, e o fumante teria acesso ao produto de melhor qualidade. Mas reduzir impostos sobre cigarros, apesar de totalmente lógico, é "politicamente incorreto". E o contrabando segue feliz aumentando sua fatia de mercado.
Fumar faz mal à saúde. Assim como comer gordura demais, não praticar exercícios, beber muito álcool etc. Tudo isso pode causar sequelas. Mas não seria o indivíduo quem deve decidir? Não é ele o mais interessado no seu bem-estar? Frank Sinatra, para dar um exemplo, morreu aos 83 anos de idade, tendo fumado e bebido por muitos anos. Quem sou eu, quem é você, e quem é o governo para proibir tais hábitos individuais, que não tolhem a liberdade alheia?
Infelizmente, os motivos de tanta intervenção não são tão nobres como alguns pensam. O governo tem uma tendência natural de ir expandindo seus tentáculos, concentrando poder, e aumentando impostos. Acabamos como súditos de Brasília, e não cidadãos livres. Por isso digo: onde há fumaça... há governo!
PS: Quem detesta cigarro e por isso aplaude as medidas do governo está perdendo o fio da meada. Hoje é o cigarro o alvo. Amanhã pode ser o McDonalds, a 'cerveja, ou qualquer outra coisa que os burocratas decidam ser prioridade para o "bem-estar social". Ou defendemos a liberdade individual de escolha, com a concomitante responsabilidade individual, ou seremos todos vítimas dos desejos dos governantes ou da vontade instável da maioria do momento.
Link para o artigo no site do Globo.com
terça-feira, abril 07, 2009
Um Marxista Coerente
Rodrigo Constantino
“As escolhas que um homem faz são determinadas pelas idéias que ele adota.” (Mises)
O que mais nos diferencia dos demais animais é a capacidade de livre-arbítrio através do uso da razão. Os homens podem escolher diferentes alternativas no modo de conduta para cada estímulo fisiológico. Ele não está fadado a reagir aos impulsos mais instintivos apenas. Isso vai contra qualquer crença fatalista, onde o destino dos homens esteja previamente traçado e eles nada mais representem do que agentes passivos dessas forças exógenas. Uma excelente ilustração de crença fatalista é o marxismo, como mostra Mises em Theory and History.
Para Marx, o socialismo estaria fadado a chegar com a “inexorabilidade de uma lei da natureza”. Haveria um determinismo histórico no qual as idéias e escolhas dos seres humanos não exercem poder algum para mudança de rumo. O capitalismo era uma fase nesse processo, e o último estágio, o paraíso terrestre, ocorreria inevitavelmente com a chegada do socialismo, abolindo as divisões de classes previamente existentes. O marxismo, como toda crença fatalista, vai à contramão da natureza humana, e por isso é tão difícil – para não dizer impossível – se adaptar realmente a estas crenças. As claras contradições de Marx começam quando ele se torna um ativista político. Ora, qual o sentido de praticar ações revolucionárias se os eventos futuros devem inevitavelmente se suceder de acordo com um plano pré-ordenado, independente do que os homens façam?
Se Marx fosse consistente com suas crenças, como lembra Mises, ele não teria embarcado em atividades políticas. Bastava ele ficar quieto no seu canto, aguardando o dia no qual a propriedade privada capitalista iria desaparecer, dando lugar ao socialismo. Nada que os homens fizessem, segundo o próprio Marx, poderia mudar esse destino. Ele era, afinal, algo já determinado pela história. Qual o sentido em lutar tanto por uma causa que independe de nossa luta e que já é certa, pois foi previamente definida? As ações de Karl Marx entram em evidente contradição com suas idéias, justamente provando que ele mesmo depositava, no fundo, enorme importância no poder das idéias nas escolhas dos homens. Estes teriam, portanto, a liberdade de traçar o próprio destino.
Segundo Marx, as “forças materiais produtivas” guiam a humanidade e determinam o curso da história. Apesar de ser este um conceito fundamental na obra de Marx, ele não oferece uma definição mais objetiva sobre o que isso quer realmente dizer. A idéia é que a tecnologia, os “fatores de produção” são considerados o fator essencial dessas forças produtivas, que por sua vez determinam as relações produtivas e toda a “superestrutura”. Logo de cara se nota uma inversão: essa tecnologia, essas invenções são produto de um processo mental, do uso da razão e de novas idéias. Marx inverte essa lógica, e afirma que são as forças materiais que definem as idéias, como se tais forças surgissem num vácuo, caindo do além.
Em segundo lugar, como argumenta Mises, o capital previamente acumulado pela poupança é necessário para implementar essas idéias inovadoras. Mas para poupar é preciso uma estrutura social na qual seja possível poupar e investir. As relações produtivas, portanto, não são o produto das forças materiais produtivas, mas uma condição indispensável para que elas existam. Como então explicar a existência da sociedade através das forças produtivas que são, elas mesmas, resultado de um nexo social previamente existente? Para Marx, antes havia as tais “forças materiais produtivas”, que em seguida compelem os homens a entrar em relações produtivas definitivas que independem de suas escolhas. E depois essas relações produzem a “superestrutura”, assim como as idéias religiosas, artísticas e filosóficas. São todos prisioneiros de sua classe. Esta que irá determinar o pensamento dos indivíduos. Há o pensamento burguês, e o pensamento proletário, dependendo da classe social. Curiosamente, em mais uma incoerência, o burguês Marx era o “profeta” capaz de se livrar essa prisão ideológica e enxergar a verdade, que os próprios proletários não eram capazes de ver com seus próprios olhos.
Partindo deste dogma, e não deixando espaço algum para contestação racional de sua premissa, o marxismo exige que todos os membros de uma mesma classe pensem da mesma maneira. Caso contrário, a teoria toda estaria invalidade logo na largada. Mas como a realidade é totalmente diferente, era preciso uma tática para lidar com a situação: os proletários que discordassem do credo marxista eram todos “traidores”. Como os marxistas enxergavam a coisa, seus adversários eram apenas burgueses idiotas e alienados, ou proletários traidores. Não há espaço para contestação sincera, e tanto Marx como Engels proferiram ataques virulentos contra aqueles que ousavam questionar suas crenças. A difamação e os ataques pessoais substituíram o debate racional no marxismo. E como as divergências não podem ser solucionadas através de debates calcados em argumentos, a guerra civil e a revolução armada passam a ser o único meio para resolver o impasse. É preciso eliminar fisicamente aqueles que discordam dos dogmas marxistas.
Voltando ao aspecto do determinismo histórico do marxismo, o capitalismo é um meio necessário para chegar ao socialismo. Além disso, os capitalistas são alienados sem consciência ou escolha sobre suas ações. Elas foram previamente determinadas, e eles apenas executam as tarefas que devem executar pela lei da natureza. Esses atos, ainda que vistos como uma “exploração” pelos marxistas, também são vistos como inevitáveis, e como um passo necessário para o destino final e esperado. Ora, se Marx fosse consistente, como conclui Mises, ele teria exortado os trabalhadores: “Não culpem os capitalistas; ao ‘explorarem’ vocês, eles fazem o que é melhor para vocês; eles estão pavimentando o caminho para o socialismo”. À luz do próprio marxismo, aquele que luta por legislação trabalhista e aumento de salários é um “pequeno-burguês” reacionário, pois está tentando obstruir o caminho do socialismo. O marxista consistente enaltece o capitalista “explorador”, pois entende que ele é uma etapa necessária para a abolição dos salários no socialismo.
Por fim, resta questionar como o marxismo lida com as constantes mudanças de classe social. Essa mobilidade é especialmente maior onde há mais liberdade econômica. Empregados conseguem capital e criam seus próprios negócios, tornando-se empresários. Por outro lado, capitalistas vão à bancarrota e perdem tudo, tendo que arrumar algum emprego qualquer. O que ocorre com suas idéias durante esse processo de mudança? Já que é a classe social que determina as idéias, um proletário que se torna um capitalista altera automaticamente suas crenças? Um capitalista que vira empregado muda todas as suas idéias? Como ficam aqueles intermediários, administradores de grandes empresas, que não deixam de ser empregados, mas que recebem salários maiores do que o lucro de muito capitalista?
Após colocar de forma resumida os principais argumentos de Mises, que demonstram algumas gritantes contradições do marxismo, pode-se perguntar: Existe algum marxista coerente? Afinal, um marxista coerente deveria simplesmente sentar e esperar o socialismo chegar pelas leis inexoráveis da natureza, se abstendo de ativismo político. Além disso, ele teria que reconhecer a necessidade da “exploração” capitalista como um passo fundamental nessa trajetória rumo ao socialismo. Como fica claro, nenhum marxista é coerente, nem mesmo o próprio Karl Marx.
O motivo disso Mises também observou: as crenças de Marx, apesar do rótulo “científico” que ele tentou dar, eram apenas fruto de fortes emoções. Marx nutria um ódio fanático por empresários e capitalistas, comum na Alemanha de seu tempo, e agravado em seu caso particular, pois sua irresponsabilidade financeira o deixou refém de agiotas com freqüência. Ele encontrou no socialismo a pior punição que poderia infligir aos detestados burgueses. Em contrapartida, ele percebeu que um debate aberto sobre o tema iria expor suas falácias. Por isso as pessoas devem ser induzidas a aceitar o socialismo de forma emocional, sem questionar seus efeitos e sem discutir suas contradições. Quem envereda por este caminho, é ou um burguês idiota prisioneiro de uma alienação de classe, ou um proletário traidor que deve ser exterminado.
domingo, abril 05, 2009
sábado, abril 04, 2009
Lula, o Vira-Lata

Rodrigo Constantino
“A grande vaia é mil vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do que a grande apoteose; os admiradores corrompem.” (Nelson Rodrigues)
Era uma vez um vira-lata chamado Lula. Ele vivia catando resto de comida nos lixos, sempre alimentando um forte rancor dos cachorros que levavam uma vida mais confortável. Seu sonho era estar lá, vivendo como aqueles cães esnobes. “Um dia esses cachorros metidos ainda terão que se curvar diante de mim!”, ele sonhava. De bobo Lula não tinha nada, e logo ele percebeu que poderia atingir sua meta usando a quantidade de vira-latas a seu favor. Alguns cães ricos e conhecidos como “intelectuais”, sob um estranho sentimento de culpa apenas por terem nascidos mais favorecidos, encontraram em Lula a chance de se redimir de todos os “pecados”. Foi uma simbiose perfeita!
Enquanto os cães “intelectuais” pregavam que somente o “cão peão” Lula poderia fazer a tão esperada “justiça social”, o próprio Lula ia disseminando o ódio aos mais ricos entre seus colegas vira-latas. Todos os males do mundo eram culpa desses “ricos”. Se os vira-latas tinham que procurar resto de comida nos lixos, era porque os ricos tinham comida boa todo dia. O ressentimento, somado à ignorância, era o grande aliado de Lula. Por outro lado, sua retórica conquistou tantos adeptos que os cães mais ricos se viram na necessidade de contemporizar. Eles tentaram atrair Lula para seu lado, o que não foi muito difícil. Afinal, Lula sempre gostara da dolce vita dos mais ricos. Bastava oferecer algumas regalias, que Lula seria seduzido facilmente. Ele não teria remorso algum de usar seus seguidores como massa de manobra. As bravatas eram apenas um meio para chegar ao poder.
Mas os cachorros mais ricos subestimaram a sede de poder do vira-lata Lula. Ele queria mais que migalhas! Agora que tinha a mão, queria o braço todo. E sabia do poder que tinha com o domínio de todos os vira-latas. Restava apenas conquistar os cachorros da classe média, o que foi feito com a ajuda de um “marqueteiro”, que mudou a embalagem de Lula. Corte no pêlo, unhas aparadas, latido mais manso, e o poder estava em suas patas. Uma vez no cargo máximo da política dos cães, todo o ressentimento de antes veio à tona, e o vira-lata quis viver como os reis que invejava. Tecidos importados do Egito, carros oficiais para bichos de estimação, tudo que um rei tem direito e mais um pouco. A República do Vira-Lata custaria mais caro para os pagadores de impostos do que muita monarquia de país rico. Era preciso recuperar o tempo perdido na miséria. E tinham muitos camaradas vira-latas para alimentar.
Só que isso não foi suficiente. A vaidade de Lula parecia mesmo infinita. Restava uma conquista especial: a adulação dos realmente poderosos, os cães que dominavam o baralho mundial. Esses sempre foram usados por Lula como bodes expiatórios para tudo. Um dramaturgo chegou a cunhar o termo “complexo de vira-lata”, justamente porque esses cachorros sempre estavam desmerecendo tudo que era proveniente de sua terra, enquanto mantinham uma secreta admiração pelo que vinha de fora. Era uma mistura freudiana de amor e ódio, onde o Tio Sam assume a figura do pai que deve ser morto para libertar seus filhos. Os vira-latas sempre babaram de raiva dos cães “estadunidenses”, mas no fundo desejavam ser como eles, ter tudo que eles tinham. Bastava um elogio do líder desses cães para que os vira-latas se derretessem em vaidade.
E foi nessa hora que surgiu em cena um tal de Obama, poderoso líder dos cães mais ricos do planeta. Em um evento global, reunindo os poderosos governantes do mundo, Obama fez um elogio público ao vira-lata Lula, que ficou mais feliz que pinto no lixo. O rabo não parava de abanar, e a euforia era nítida demais para ser contida. Um simples elogio, e seu efeito era mais poderoso que qualquer entorpecente. “Nunca antes na história desse país”, repetiam os seguidores de Lula, ignorando que um ex-líder americano fizera um grande elogio por escrito, em sua autobiografia, ao ex-líder dos vira-latas. Mas quem vai estragar o prazer dos vira-latas? Trata-se de um momento único para eles. O regozijo é total.
Nota-se que muito pouco é suficiente, de fato, para agradar um cão muito vaidoso. Basta que o mais poderoso cão do mundo, cujo cargo antes fora alvo de infindáveis ataques por parte dos vira-latas, faça um único elogio, diga “esse é meu cãozinho!”. Depois disso, qualquer comando será obedecido. Obama pode jogar um osso e gritar: “Lula, pega!”, e o complexo de vira-lata garantirá um resultado extraordinário. Afinal, como disse Norman Vincent, “o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica”. Isso é verdade em dobro quando se trata de um vira-lata extremamente vaidoso.
PS: O filósofo Adam Smith, em Teoria dos Sentimentos Morais, tinha algo importante a dizer sobre isso tudo: “Nas cortes de príncipes, nos salões dos grandes, onde sucesso e privilégios dependem, não da estima de inteligentes e bem informados iguais, mas do favor fantasioso e tolo de presunçosos e arrogantes superiores ignorantes; a adulação e falsidade muito freqüentemente prevalecem sobre mérito e habilidades. Em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as habilidades em servir”.
quinta-feira, abril 02, 2009
Os Mitos Anticapitalistas
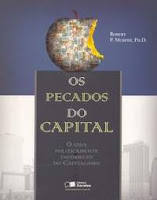
Rodrigo Constantino
“As pessoas que insistem em usar a política para promover o mercado são as mesmas que insistem na coerção do governo em vez da escolha individual.” (Robert Murphy)
O Brasil é um dos países onde a mentalidade anticapitalista mais se alastrou entre os leigos. O lucro ainda é visto por muita gente como fruto da exploração capitalista, e o governo acaba sendo idolatrado como uma espécie de “messias salvador”. É, pois, com grande satisfação que vejo o lançamento de Os Pecados do Capital: O Guia Politicamente Incorreto do Capitalismo (Editora Saraiva, 2009), de Robert Murphy, Ph.D. em economia pela Universidade de Nova York. Murphy derruba inúmeros mitos sobre o capitalismo, e faz isso com sólidos argumentos e de forma até divertida. Trata-se de uma leitura agradável, que irá desfazer diversas falácias tão disseminadas entre os brasileiros.
Algumas pessoas podem achar que a velha dicotomia entre socialismo e capitalismo está ultrapassada, devidamente enterrada com o fim da Guerra Fria. Mas, como lembra Murphy, “a elite intelectual continua a desprezar o capitalismo”. A culpa de todos os males sociais é sempre jogada para os ombros do livre mercado, e a solução proposta sempre acaba com mais recursos e poder para o governo. É nesse contexto que o livro ainda se mostra extremamente útil. O capitalismo de livre mercado, compreendido como um sistema de troca voluntária, onde comprador e vendedor concordam com uma troca por acharem que ela é mutuamente benéfica, ainda continua um ideal distante. No mundo todo, em diferentes graus, o governo usa da força para intervir nessas trocas. No caso brasileiro, a situação é ainda pior, embora na mitologia de esquerda o “neoliberalismo” seja acusado pela miséria aqui existente. Conforme fica claro durante a leitura do livro, o Brasil está muito longe de ser uma economia capitalista de livre mercado.
O título original do livro, justamente o subtítulo da versão traduzida, já deixa evidente a polêmica estimulada pelo autor: trata-se de um guia politicamente incorreto do capitalismo. Tanto o governo como os “intelectuais” de esquerda têm interesse em manter a lógica econômica do capitalismo afastada dos mais leigos. Dificilmente se escutará por aí explicações como aquelas oferecidas pelo autor para problemas do cotidiano. Por exemplo, pouca gente irá explicar na grande imprensa que são os controles de preços do governo que geram escassez generalizada de produtos. Não será comum ver quem diga que as importações não acabam com empregos locais. Menos comum ainda será ver alguém afirmando que a Grande Depressão não foi causada pelo livre mercado, e que o New Deal não resolveu a crise. Raríssimo será ver algum economista explicando que o trabalho infantil não se tornou coisa do passado nos países desenvolvidos por medidas do governo, mas sim graças ao capitalismo.
O autor explica, por exemplo, como o livre mercado combate o racismo, punindo economicamente o racista, enquanto medidas do governo, como cotas, apenas fomentam a segregação. Ele mostra como o capitalismo pode proteger o meio ambiente, através dos incentivos da propriedade privada, enquanto nações socialistas foram sempre as mais poluidoras em termos relativos. Murphy explica também as gritantes diferenças de incentivos entre “reguladores” particulares e burocratas, lembrando que os primeiros só sobrevivem se forem eficazes, enquanto os últimos costumam receber mais verbas como “recompensa” pela ineficiência. Ele expõe ainda o fato de que os próprios indivíduos gastam de forma muito mais prudente seu próprio dinheiro do que o governo, torrando o dinheiro da “viúva” em benefício próprio. Ele afirma que o sistema de Seguridade Social é apenas um esquema Ponzi insustentável, que oferece um meio fácil para o governo tomar dinheiro emprestado, hipotecando o futuro das próximas gerações. Ele argumenta que os verdadeiros monopólios contam sempre com a ajuda do governo, impedindo a livre concorrência de novos entrantes.
Isso tudo – e muito mais – é mostrado no livro de Murphy de forma bastante direta, com argumentos claros e vários exemplos ilustrativos. No término, ele oferece algumas dicas para que o leitor entenda melhor o livre mercado. Eis algumas delas: olhar os impactos das medidas do governo num horizonte mais longo, procurando custos ocultos da intervenção, em vez de benefícios imediatos e superficiais; examinar os antecedentes do governo no que se refere a ‘planejamento’ econômico; estudar história, para investigar as conseqüências dos governos que desrespeitaram a propriedade privada; estudar outras instituições sociais ‘espontâneas’, como as línguas, para compreender que resultados ordenados e eficientes não demandam um controle central; e aceitar que os males sociais não podem ser erradicados apenas através da “vontade política”.
A Editora Saraiva presta um grande serviço ao país publicando esse excelente livro em português. Após sua leitura, será difícil alguém manter uma postura anticapitalista. Os argumentos racionais de Murphy são um potente antídoto contra os dogmas repetidos ad nauseam pelos “intelectuais” de esquerda. Basta deixar a razão falar mais alto que a emoção, e os mitos anticapitalistas irão se esfacelar, um a um.
quarta-feira, abril 01, 2009
Assinar:
Comentários (Atom)


