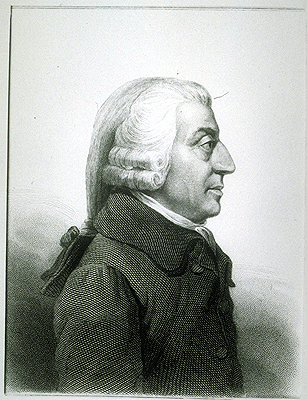Rodrigo Constantino
“Quem quer enganar o povo e governar em proveito próprio tem interesse em mantê-lo na ignorância.” (Napoleão Bonaparte)
A doutrinação ideológica começa cedo por aqui, nesse país que ainda não chegou nem mesmo na Idade da Razão. O romantismo do “homem cordial”, a linda imagem do “bom selvagem” corrompido pela sociedade, é ainda a mentalidade predominante no Brasil – o que explica muito do nosso atraso. Em resumo, a idolatria a Rousseau em vez da admiração a Adam Smith contaminou os “intelectuais” brasileiros. Eis que minha filha, com cinco anos de idade apenas, está agora “aprendendo” que os índios eram bonzinhos, foram dominados pelos homens brancos maus, e que o progresso é algo terrível. Homens destroem árvores para construir, onde já se viu! Todos devem viver em ocas, pelo visto. Certos estavam os pobres indiozinhos, que viviam apenas com o que a mãe natureza oferecia gratuitamente. Verdade?
Evidentemente, nada mais falso. Como explicar para as crianças que essa visão idílica dos índios não passa de uma grotesca mentira? A autoridade de um professor é algo sedutor em tão tenra idade, e os homens escolhem rápido o apelo à autoridade em vez da reflexão própria. Também pudera, com cinco aninhos! Ensinar a pensar, a não aceitar “verdades” independente de quem as profere, a questionar sempre e buscar com o tempo o conhecimento, é o antídoto necessário para evitar o crescimento de mais um ser autômato que repetirá os dogmas do “politicamente correto” no futuro. Mas exige esforço e paciência, pois repetir que o professor, uma espécie de “deus” para as crianças, pode estar enganado, não é tarefa fácil. É como mexer com a divindade dos crentes!
Mas voltando aos índios, será que o professor sabe como viviam os astecas, por exemplo? Estamos falando dos mais avançados, claro. Será que ele tem idéia dos sacrifícios de crianças como oferendas aos deuses após uma boa colheita, para que a chuva voltasse como presente divino? Será que ele tem conhecimento de como vivam os seguidores de Ataualpa? Ou os de Montezuma, aquele que arrancava corações com as próprias mãos, segundo dizem? Está certo que Pizarro e Cortés não eram nada santos, e que em nome da fé cristã e da “evangelização” dos selvagens dizimaram os índios. Mas como vivam esses índios antes? De acordo com a imagem de “bom selvagem” de Rousseau, ou em um regime opressor, violento e cruel? Claro que a segunda opção. As tribos indígenas eram violentas, especialmente umas com as outras. Os índios reais passam longe dos índios que românticos idealizam do conforto da civilização.
No fundo, este tipo de mentalidade romântica herdada de Rousseau advém de um claro desprezo pelo progresso e tudo que os homens conseguiram alcançar na vida, particularmente depois da Idade da Razão. A racionalidade incomoda aqueles que colocam o “sentir” acima do “pensar”. Rousseau dizia que “um homem pensante é um animal depravado”. Há inclusive certo ódio ao próprio homem, considerando-se então que os animais são melhores. Quanto mais perto do seu estágio selvagem, melhor seria o homem. A visão encontra paralelo em mitos religiosos, como o próprio Jardim do Éden, onde aquelas criaturas puras e inocentes viviam felizes até comer o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. O conhecimento leva à desgraça dos homens. O ideal é ser como os chimpanzés, “puros” e “inocentes”. Claro, tudo isso fica mais fácil de defender quando se está escrevendo no conforto de um gostoso ar condicionado, obra da razão humana que os índios ignoravam. Uma dose de hipocrisia não mata ninguém!
A vida verdadeira dos índios não tem semelhança com os mitos românticos criados pelos homens modernos. Era uma vida de ignorância profunda em diversos aspectos, fazendo com que uma boa colheita fosse associada ao sacrifício de crianças oferecidas aos deuses. Era uma vida curta também, na média, se comparada aos padrões dos países civilizados de hoje. Afinal, era uma vida sem o acesso facilitado a diversos remédios que são vendidos em qualquer farmácia por aí. Era violenta muitas vezes, sempre com a ameaça de guerras entre diferentes tribos. Tem que sentir muito ódio da civilização e do próprio homem para enaltecer essa vida. Ou, claro, tem que ser bastante hipócrita.
Creio que muitos gostam de falar dos índios como falam dos animais nos zoológicos, e inclusive defendem reservas para mantê-los eternamente no atraso. É curioso observá-los assim, longe da civilização. Isso se a maioria vivesse de fato nessas condições, pois muitos andam em carros importados, possuem parabólicas e viram até deputados, voltando ao cocar somente quando é preciso lutar por mais verbas estatais em nome da “preservação indígena”. Os índios atualmente são verdadeiros latifundiários, controlando gigantescas reservas ricas em recursos naturais, que acabam exploradas ilegalmente com o aval dos chefes indígenas, mancomunados com corruptos da FUNAI. Mas falam em salvar a cultura indígena, como se estes devessem estar fora da possibilidade de progresso. Ora, em nome da “tradição” ocidental, deveriam então resgatar a escravidão, a perseguição religiosa, o crime para o adultério e por aí vai. Alguém quer defender este absurdo?
Por trás do culto da personalidade do herói salvador e messiânico está esse romantismo enraizado na mentalidade brasileira. O romântico revolucionário é um eterno adolescente, que projeta o mal sobre os outros, aceita suas paixões como prova da verdade divina e quer derrubar as estruturas da sociedade. Como coloca o embaixador Meira Penna em O Dinossauro, “característico do romantismo é a opção preferencial pelos pobres, pelos boêmios, os fracassados, os falidos, os vagabundos”. Os males são responsabilidade da “sociedade”, e os criminosos são apenas vítimas. Eis o mito romântico que Rousseau inaugurou, e que explica hoje essa distorção de valores em nosso país, transformando assassinos frios em coitadinhos, vítimas dessa cruel sociedade. O progresso precisa ser combatido também, pois representa “um passo para a decrepitude do homem”, segundo Rousseau.
David Hume considerava Rousseau um “monstro que se considera a pessoa mais importante do mundo”, e Voltaire o classificou como “vagabundo malicioso”, “malandro insolente” e “monstro da vaidade e baixeza”. Sua coletivista idéia de “Vontade Geral” transformava os indivíduos em frações sacrificáveis de um todo. Foi ele o pai do totalitarismo moderno. Arrogava-se ser o homem mais virtuoso do mundo, mas abandonou os seus quatro filhos num orfanato, e ainda teve a pretensão de ensinar sobre educação, sendo ainda respeitado por isso. O “bom selvagem” era bem selvagem, ao que parece, mas nada bom. E esse é o ícone do filósofo que é admirado ou mesmo idolatrado pelos “intelectuais” brasileiros. É sua visão de mundo que faz com que os índios sejam vistos como puros e virtuosos, enquanto o homem branco é podre e malvado. É esse tipo de mentalidade que minha filha de cinco anos é obrigada a “aprender” na escola. Escola privada ainda por cima! Nem quero pensar o que ocorre nas públicas. Eis o segredo para os que desejam manter o poder para sempre: começar já doutrinando as indefesas crianças.